Se a vida fosse uma corrida com obstáculos, a recompensa perto da linha de chegada seria a velhice desfrutável. Para alguns, o percurso até lá é uma maratona. O primeiro desafio a ser superado é nascer vivo. No Brasil, a maior parte dos óbitos neonatais é de crianças negras (pretas e pardas). Essa população também sofre mais com a violência durante a juventude, somando 70% das vítimas de homicídio. Conseguir envelhecer nesse cenário é vitória.
O último Relatório Anual das Desigualdades Sociais, do Núcleo de Estudos de População, da Unicamp, publicado em 2011, mostrou que a expectativa de vida entre negros no Brasil é de 67 anos. Já os brancos vivem em média 73 anos. Não há dados nacionais atualizados sobre essa diferença.
Atualmente, o baixo índice de idosos autodeclarados negros no Brasil, nação de maioria preta e parda, indica essa desigualdade. Somente 7,9% das pessoas com mais de 60 anos no país são pretas. Pardos representam 35,3% e brancos 55,1%, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em cenários desfavoráveis a boas condições de saúde e educação, negros são maioria. A porcentagem de pessoas com esse tom de pele em situação de pobreza e de extrema pobreza dobrou nos últimos cinco anos. Já a taxa de brancos na mesma realidade manteve-se inalterada.

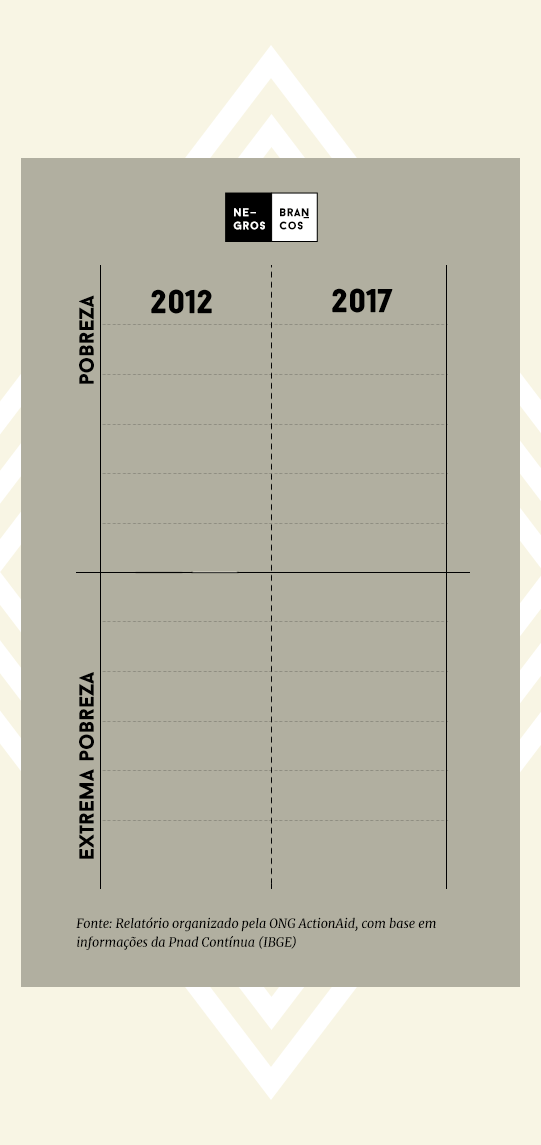
A situação econômica em que essa população se encontra traz consigo um conjunto de fatores, como falta de acesso a saneamento básico, alimentação adequada e cuidados hospitalares. O resultado é a redução da expectativa de vida e o surgimento de mais transtornos para quem, contrariando as adversidades, chega à fase idosa.
“A criança de hoje é o idoso de amanhã. A população negra é afetada por determinantes sociais e pode não chegar aos 60 anos sem sequelas”
Lúcia Xavier, coordenadora da ONG Criola
A trajetória de uma vida de discriminação culmina em uma velhice cheia de percalços. Estudos apontam problemas de mobilidade e isolamento como algumas das características mais presentes na rotina dos idosos negros do que na dos brancos.
“Longevidade é um indicador superpositivo para se pensar no futuro de uma sociedade. Temos observado que a população negra não está inserida nesse cenário”, afirma Emanuelle Goes, enfermeira do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Ao clamar por igualdade, essas vozes denunciam violações de direitos fundamentais, pois também desejam ir mais longe. O aposentado Franselino Luis dos Santos é um exemplo disso. Ele só teve acesso ao sistema de saúde quando completou a sexta década de vida.
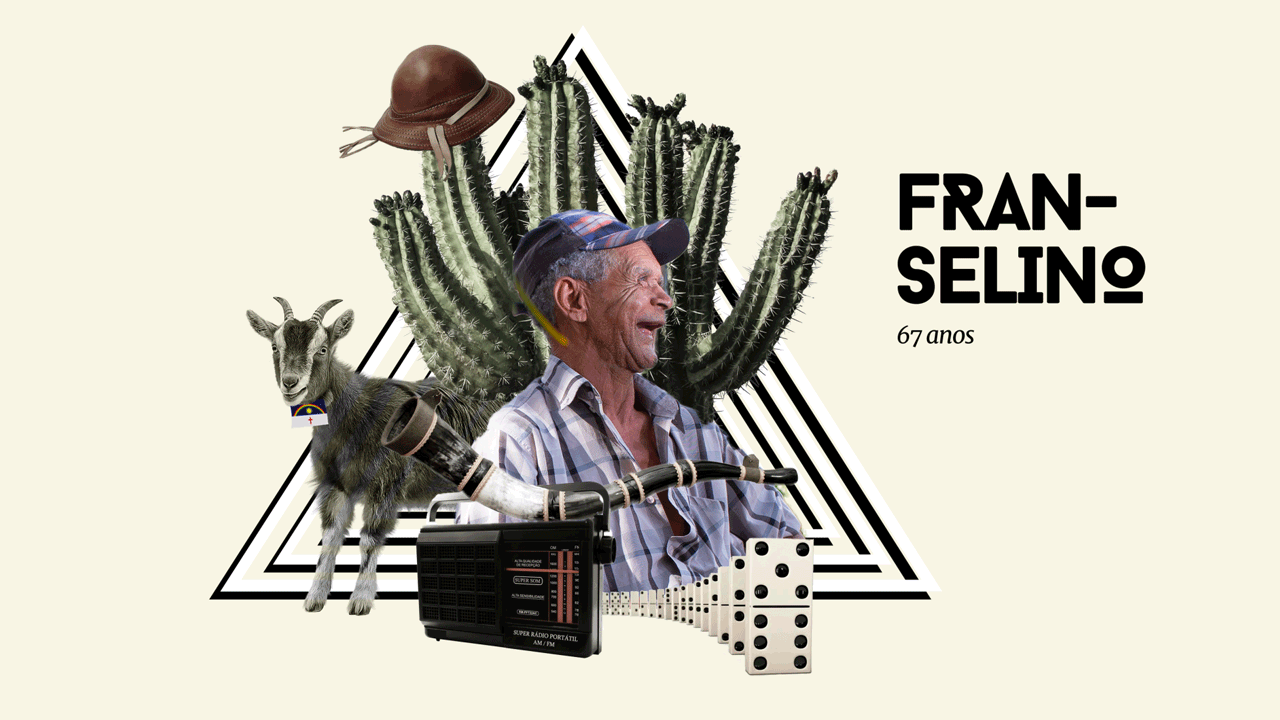
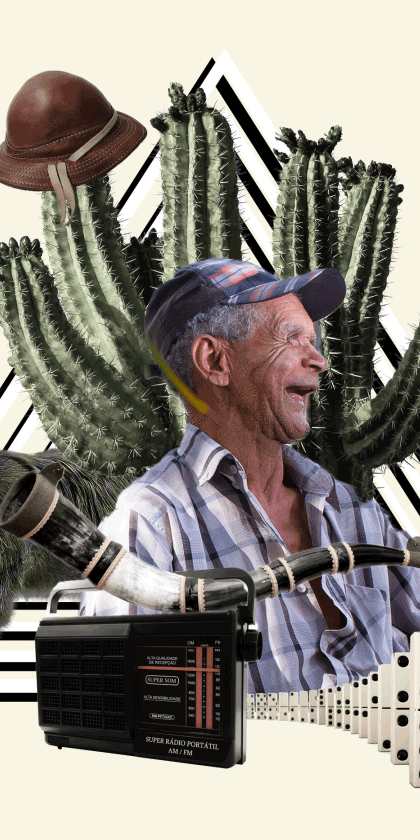
No sertão de Pernambuco, onde nasceu, as crianças com sarampo eram tratadas com chá de vassourinha e colocava-se milho debaixo da rede para espantar a doença. Ele completou 67 anos sem nunca ter tomado qualquer vacina.
A maioria de seus amigos de infância, porém, não teve tanta sorte. Muitos meninos e meninas da área rural onde ele vivia não completavam 5 anos. Quando passavam dessa idade, logo eram mandados para a lavoura de milho e feijão.
Franselino deixou a terra natal em 1987, após uma tragédia familiar. Seus dois filhos, um de 9 e outro de 11 anos, morreram afogados enquanto tomavam banho de rio. Ele mudou-se com a mulher para a Bahia e, depois, vieram a Brasília, em 1993. A esposa não aguentou a saudade de casa e voltou para o Nordeste. “Somos só eu e o Pai lá de cima”, diz.
Na capital federal, Franselino foi ao médico pela primeira vez em 2013, quando estava com pedra na vesícula. Orgulhava-se de ter saúde de ferro, foi pedreiro, vaqueiro e trabalhou como caseiro em fazendas de Sobradinho, até sofrer um acidente. Caiu do cavalo e fraturou o quadril, com 64 anos.
Passou um mês internado no Instituto Hospital de Base (IHB). A saúde de Pernambuco, como é chamado pelos amigos, ficou debilitada. Ele chegou a pesar 44kg e ficar deprimido. Há um ano, ele aceitou um convite para viver no Lar dos Velhinhos Maria Madalena, no Distrito Federal.


Pernambuco ainda chora ao lembrar da época de vaqueiro, mas se sente grato pela nova casa. Já recuperou peso e faz fisioterapia semanalmente. Joga dominó e fuma “um cigarrinho” para passar o tempo, porém queria mesmo trabalhar. “Era o prazer da minha vida”, diz entristecido.
As dificuldades enfrentadas por Franselino, seus amigos de infância e sua família se repetem, em diferentes níveis, na vida da maior parte da população negra brasileira. Historicamente, a taxa de mortalidade infantil (TMI) tende a ser maior nesse grupo. Segundo um artigo publicado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o falecimento de crianças declaradas pretas foi 1,8 vez superior à média nacional.
De 1990 a 2015, a TMI no Brasil diminuiu, em média, 4,9% ao ano. Em 2016, a taxa voltou a subir, o país apresentou 14 mortes a cada 1 mil nascidos, 4,8% a mais em comparação ao ano anterior.
“Apesar de os dados registrados na última pesquisa, o Brasil fez muito na redução da mortalidade infantil. O país salvou milhares de crianças que antes não completavam 6 anos. Esses sobreviventes, entretanto, estão morrendo na adolescência”, disse Florence Bauer, representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).
A fala assertiva foi dita durante o lançamento do Comitê para a Prevenção de Homicídios de Adolescentes, no Rio de Janeiro, em maio de 2018. Na ocasião, a entidade informou que 335 jovens foram assassinados em 2016 na capital carioca. Desses, 269 eram negros.
O Brasil é país que mais mata adolescentes em números absolutos. Em 2015, 11.403 pessoas entre 10 e 19 anos foram assassinadas. “A probabilidade de ser assassinado adolescente é mais alta do que durante a fase adulta”, completou Florence.
A violência reduz a expectativa de vida de homens pretos e pardos em 1,73 ano, segundo cálculo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O valor é mais do que o dobro do impacto visto em homens brancos. De acordo com o estudo, negros correm 8% mais riscos de se tornarem vítimas de homicídio, ainda que nas mesmas condições de escolaridade e características socioeconômicas.

Questões relacionadas a emprego, educação, renda e lugar de moradia ajudam a entender apenas 20% da diferença no número de mortes entre negros e brancos. O racismo explica o restante.
A violência policial, que vitimiza especialmente jovens pretos e pardos, responde por uma fatia desses óbitos. Segundo o Monitor da Violência, agentes e militares mataram 5.012 pessoas em 2017, um aumento de 19% em relação a 2016. Já o número de oficiais da corporação assassinados caiu em 15%: foram 385 no ano passado.
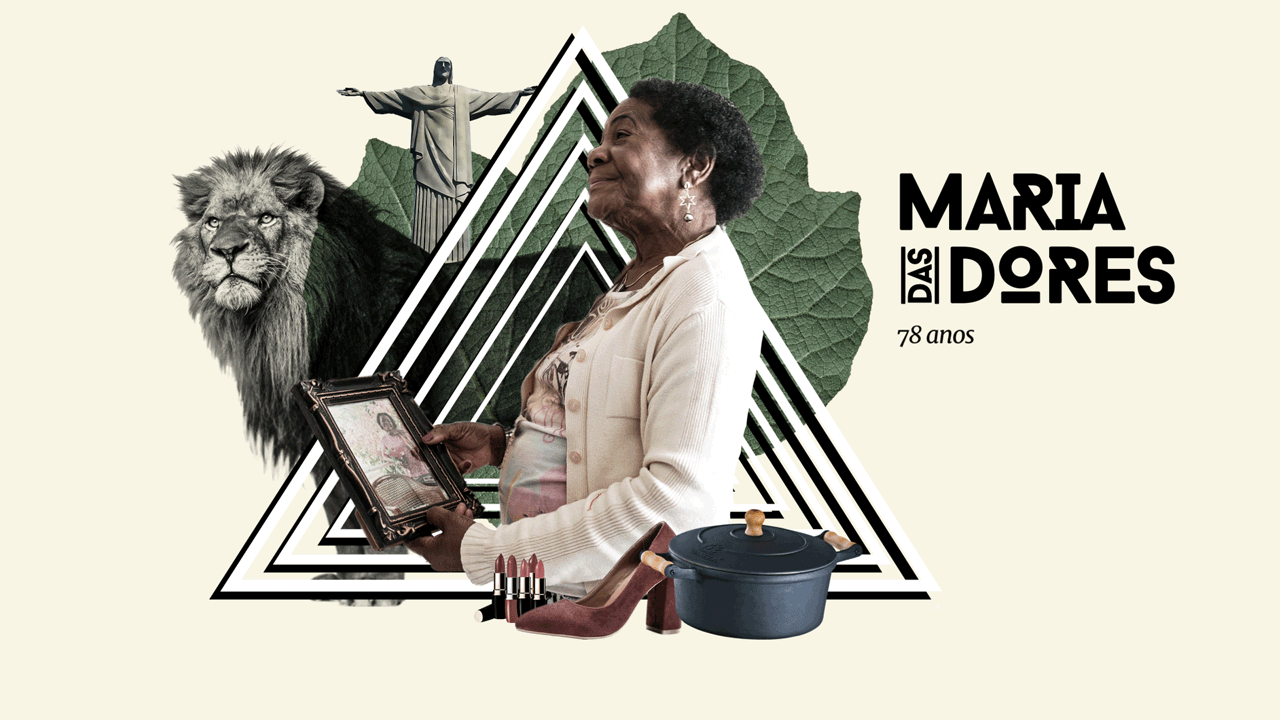

Sem saber escrever uma letra sequer, Maria das Dores Conceição Andrade aprendeu a conjugar o verbo sofrer. O nome dela carrega o padecer. Nascida em Ilheus (BA), foi entregue a uma família carioca e levada para o Rio de Janeiro aos 9 anos, com a promessa de que frequentaria a escola.
Filha de agricultores, tinha cinco irmãos e a esperança de uma vida melhor, mas tornou-se escrava doméstica de um casal de fazendeiros. Trabalhou em troca de casa e comida por boa parte da vida. Aos 18 anos, casou-se com um homem 17 anos mais velho e mudou de endereço. “Eu já cozinhava quando era criança. Era muito presa, então, quando meu marido pediu para casar, aceitei”, lembra.
Ela teve cinco filhos dos quais somente um sobreviveu à infância: uma mulher que morreu aos 40 anos de AVC. “Eu era muito anêmica, comia mal, meus bebês nasciam mortos”, lembra. O marido viveu somente até 47 anos. Maria veio para Brasília com 55 anos, após perder todos os parentes.
O último golpe foi trágico, a mãe biológica dela, com quem havia retomado contato, morreu assassinada após ser estuprada e empalada, aos 88 anos, enquanto atravessava um matagal para entregar roupas lavadas, em Niterói (RJ). “Depois disso, fiquei mal da cabeça. Comecei a vagar pela rua, andar feito doida, descalça, descabelada”, conta.
A promessa de acesso à educação nunca se concretizou para Maria. Ela só aprendeu a escrever o próprio nome com quase 60 anos, quando já morava em Brasília. Na cidade, também teve sua primeira consulta médica. Atualmente, Das Dores, como é conhecida, tem 78 anos, sofre de dificuldades de locomoção e toma remédios para controlar a hipertensão arterial.
Durante toda a vida, ignoraram seu nome, sua humanidade, chamaram-na de “tição”, “borra de carvão” e “menina escurinha”. Diziam a ela que não adiantava se arrumar, pois era impossível ser bonita com seu tom de pele. “Certa vez, uma amiga me chamou para a igreja. Quando cheguei lá, uma mulher perguntou: ‘Não tinha uma branca para trazer?’. Isso acontece até na casa de Deus”, relata Maria.
“O governo precisa acabar com o racismo. Afinal, somos todos filhos de Deus”
Maria das Dores Conceição Andrade


No Lar dos Velhinhos, no DF, Maria das Dores redescobriu o prazer de viver. “Comecei a gostar das coisas de novo. Passo batom, calço sapato, uso anel, pulseira. Cuidam da gente, tem muita comida boa”, diz.
Hoje, ela é acompanhada por profissionais da saúde e ama tomar conta da horta do abrigo. Mas, ao lembrar do passado, Das Dores destaca um entre vários pesares e afirma não ter realizado seu maior desejo: ser enfermeira, para cuidar de crianças.
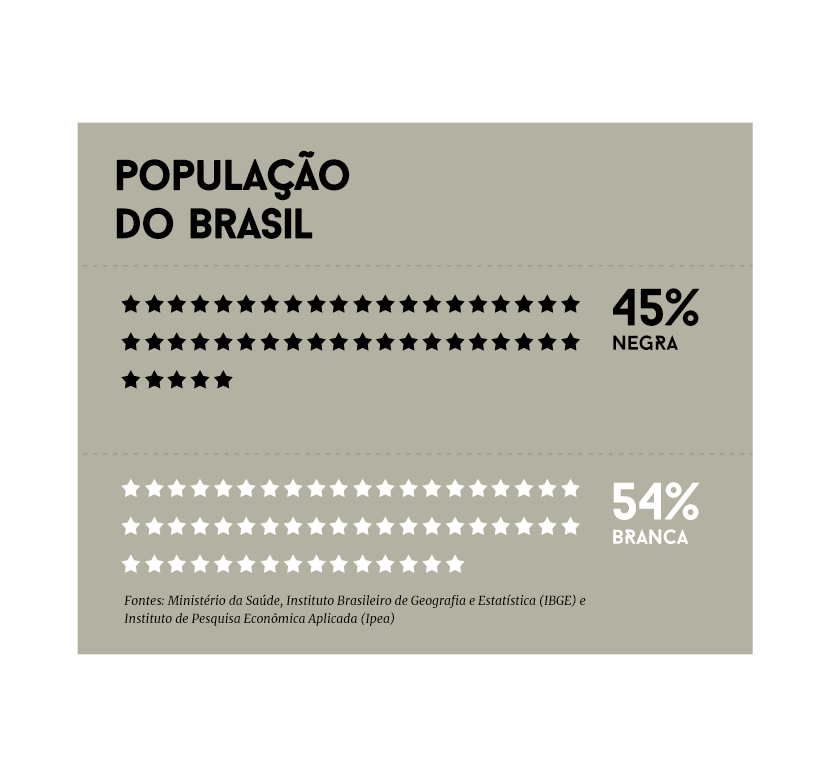
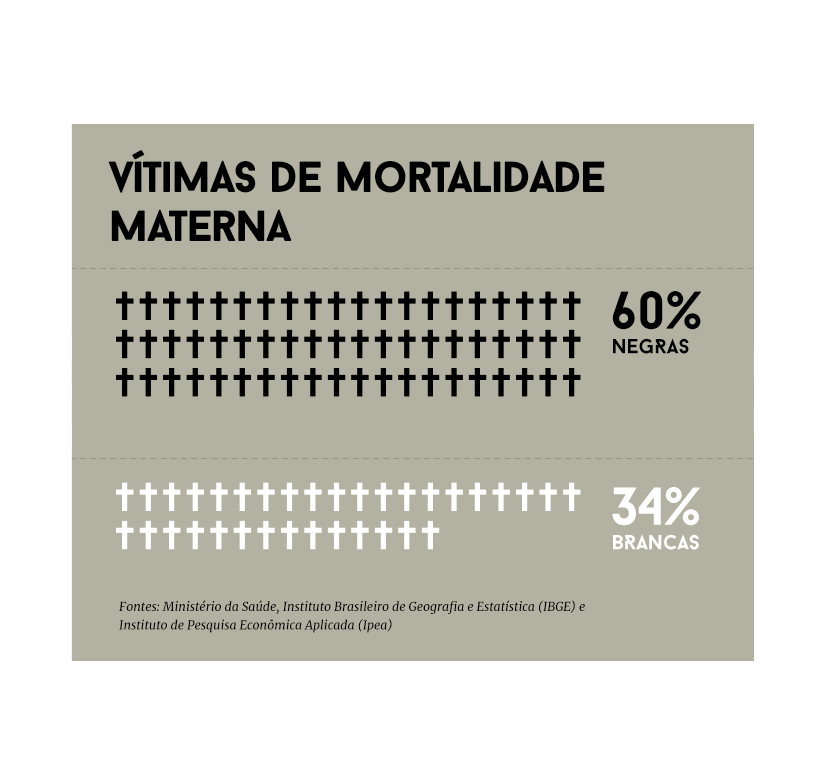
“O racismo ainda persiste durante o envelhecimento”, afirma o doutor em saúde pública e gerontologia pela USP Alexandre da Silva. Há 20 anos, ele pesquisa temas relacionados à velhice da população negra e identificou marcas profundas da desigualdade nessa fase da vida.
O especialista escreveu sua tese de doutorado sobre idosos na perspectiva étnico-racial. Ele teve acesso a bancos de dados oficiais de saúde do município de São Paulo. Nesses documentos, coletou informações sobre 1.263 pessoas na terceira idade e investigou como o racismo influencia no envelhecimento.
Alexandre adotou a incapacidade funcional, caracterizada por dificuldade para levantar da cama, atender telefone e sair de casa, entre outros fatores, como parâmetro. Constatou que, no município de São Paulo, idosos negros apresentam mais limitações físicas.
“Pretos e pardos estão mais incapacitados que idosos brancos. Usamos um modelo matemático para avaliar as causas, e o racismo apareceu como fator importante”, afirma.
Atividades instrumentais de vida diárias (AIVD) são indicadores para avaliar a saúde do idoso. “Se aquela senhora ou senhor não tem uma rua adaptada e iluminação decente, sua participação na sociedade fica restrita. Como eles vão sair para andar em seus bairros e aproveitar a vida?”, questiona Silva.
Ainda segundo o especialista, para entender a questão, é preciso olhar para o racismo como um marcador social. “É uma trajetória inteira que ajuda a explicar o impacto no envelhecimento. Uma pessoa preta ou parda vive em condições de vida piores: baixa escolaridade, pouca renda, morando em espaços com menos oportunidades”, avalia.
“Chegar ao envelhecimento sendo negro é uma conquista. Os serviços de saúde não estão preparados para atender esse grupo”
Alexandre da Silva, doutor em saúde pública
Para além das questões de saúde, outros fatores prejudicam o envelhecimento de pretos e pardos. “Comprovamos também que esse idoso chega a mais de 60 e não tem mais amigos e familiares na mesma faixa etária”, relata o pesquisador.
A falta de informações oficiais atualizadas e com recorte de raça dificulta o cálculo exato de expectativa de vida com diferenciação por cor da pele. “O negro morre mais cedo e sua sobrevida depende muito do estado em que ele mora”, diz Alexandre da Silva.
Silva também chama atenção para a maior incidência de enfermidades crônicas, como hipertensão e diabetes, entre negros. “Doenças evitáveis e tratáveis matam poucos idosos brancos, enquanto pretos e pardos morrem mais cedo por essas mesmas condições. Alguns remédios fazem efeito em brancos, mas não funcionam tão bem para negros, mas isso não é levado em consideração”, afirma.
“Sempre tivemos idosos negros, mas, como eles não estão nos espaços de decisão, faltou alguém para pautar suas necessidades”
Alexandre da Silva, doutor em saúde pública

Enfermeira do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Emanuelle Goes aponta falhas nos programas de saúde pública pensadas para esse grupo.
“Nós ainda não conseguimos sentir os resultados de ações como a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra [PNSIPN]. Seria determinante ter um pacto entre governo federal e os municípios, com metas e diretrizes, além de reserva de recursos, para cuidar dessa parcela demográfica”, avalia.
Em 2009, o Ministério da Saúde criou a PNSIPN para combater a desigualdade no Sistema Único de Saúde (SUS). O governo lançou cartilhas e promoveu campanhas como a Não Fique em Silêncio – Racismo Faz Mal à Saúde.
A coordenadora da ONG Criola, Lúcia Xavier, reconhece avanços advindos desse programa, mas admite que o projeto ainda caminha a passos lentos. “A política foi capaz de sensibilizar os setores públicos e a população. Hoje, todos os governantes reconhecem os efeitos do racismo. Isso não significa fazer valer os direitos, mas mostra um maior nível maior de informação”, acredita.
Um passo importante, segundo a ativista, foi a implantação do quesito raça no sistema do SUS. Até pouco tempo atrás, o paciente nem sequer informava a cor da pele ao se cadastrar.
Para Lúcia Xavier, ainda é necessário que a política seja um sinalizador para ações eficazes no combate a problemas cardiovasculares, tuberculose e mortalidade materna. “Falta compromisso da gestão pública na hora de erradicar o racismo no SUS. As consequências são mortes desnecessárias e desiguais”, diz.
Desde a criação do programa, em 2007, o Ministério da Saúde tem previsto o investimento de R$ 48 milhões para a implementação de ações em todo o país. Desse total, R$ 25 milhões já foram repassados e R$ 23 milhões constam na destinação orçamentária de 2018.
O orgão ofertou capacitações para gestores, profissionais da saúde, lideranças, movimentos sociais e pacientes. Realizou também campanha publicitária para dar maior visibilidade às questões prioritárias do programa: doenças prevalentes; mortalidade materna; juventude negra; e a obrigatoriedade da coleta e do preenchimento do quesito raça/cor nos sistemas de informação do SUS.
Políticas públicas de saúde, entretanto, só serão eficazes se caminharem ao lado de um plano de aposentadoria de qualidade. O geógrafo Hugo Nicolau Gusmão analisou dados do Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade (PRO-AIM) para medir os impactos da reforma da Previdência na população negra, tendo como base o município de São Paulo.
A proposta do governo prevê idades mínimas na regra de transição, a partir de 53 anos para as mulheres e de 55 anos para os homens. Esse limite aumenta gradativamente até chegar a 62 anos para mulheres e 65 anos para homens.
“Não é possível falar de reforma da Previdência sem ressaltar que as pessoas negras estão morrendo, em sua maioria, antes de chegar aos 65 anos. Isso é resultado de condições desiguais criadas durante 300 anos de escravidão e que são mantidas até hoje pelo racismo institucional brasileiro”, afirma Gusmão.
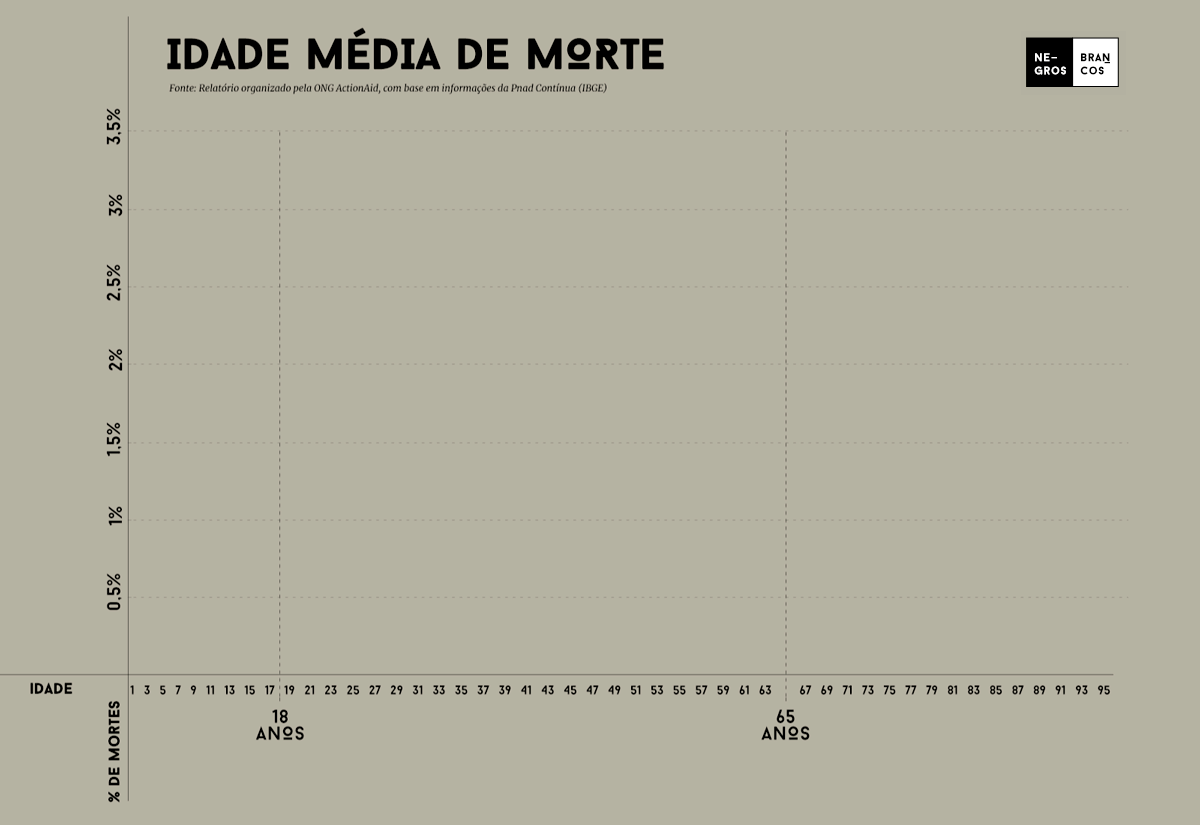
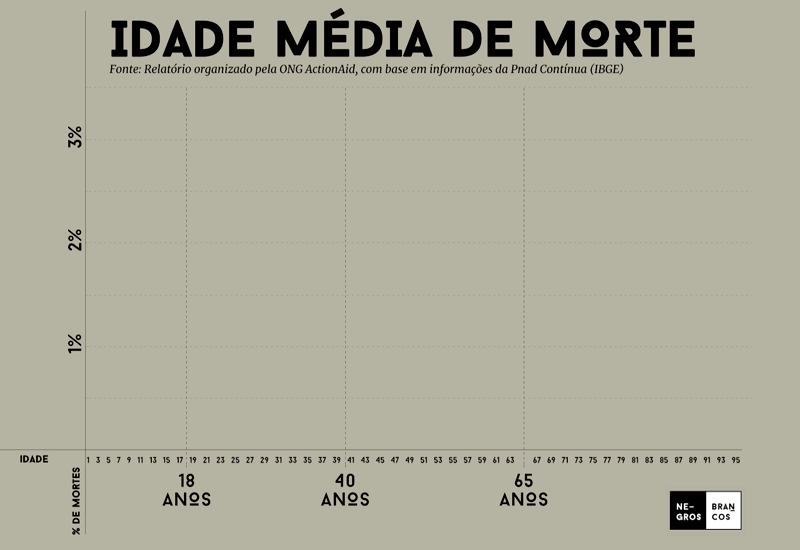

Segundo Gusmão, o tempo de vida médio dos negros não passa de 75 anos em todos os municípios do estado de São Paulo. “Em apenas 10 distritos, essa população tem expectativa superior a 65 anos”, completa.
A história de Nely Rocha de Figueiredo, 67 anos, mostra a importância do acesso igualitário a direitos básicos, como saúde e educação, para garantir longevidade. A aposentada comemorou a chegada da sexta década desafiando os próprios limites.
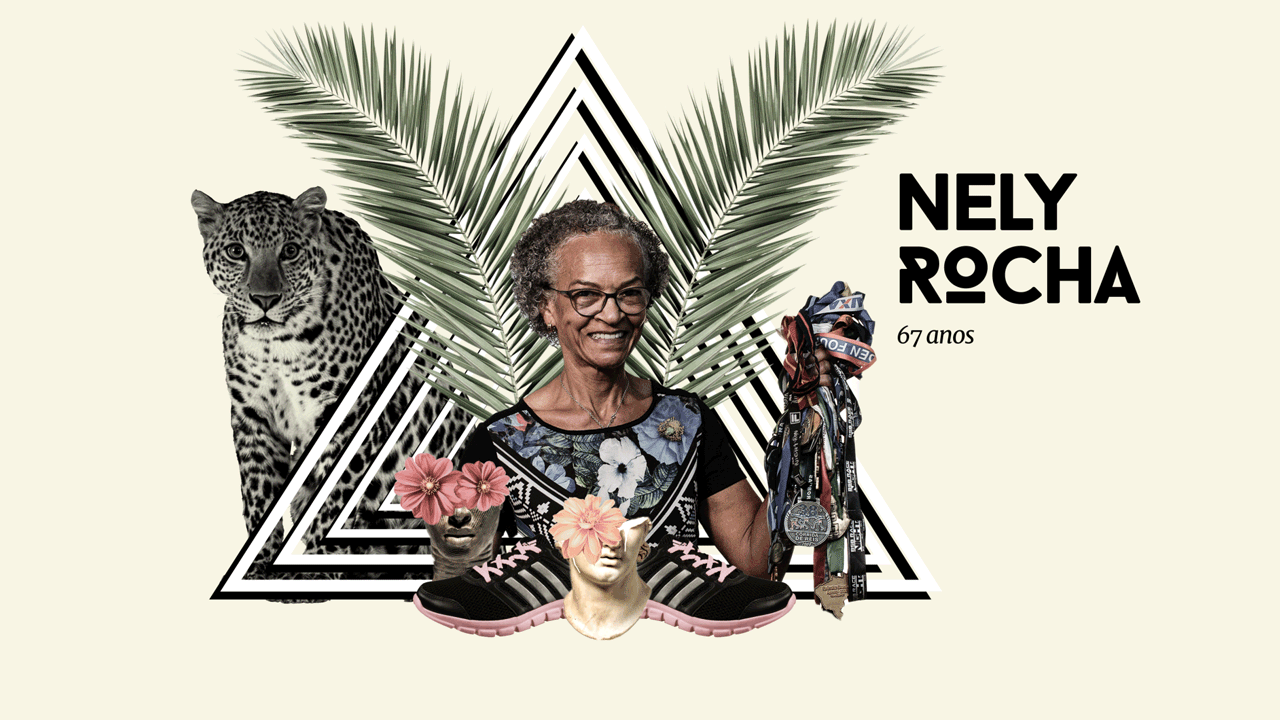

Nely correu uma maratona, mais de 42km, para celebrar a nova etapa de vida. Durante cinco horas, ela sentiu o vento bater no rosto e reconheceu o sentimento que há muito buscava: a liberdade.
Lembrou de quando era jovem, do trabalho na lavoura, do pai rígido, que não a deixava ir longe. “Quando corro, me sinto totalmente livre. Fui criada em um regime onde nada podia”, relata.
A aposentada não tirou fotos na infância ou juventude, no interior da Bahia. Quando quer visitar o passado, recorre apenas à memória. “Fui uma criança da roça, não tenho nenhum registro dessa época. Em casa, não havia água, luz, telefone. Éramos 10 irmãos”, diz.
Ela ganhou o primeiro salário aos 12 anos, para ajudar os pais. Com 18, casou-se com um servidor público, veio a Brasília e construiu seu lar. Trabalhou como manicure e vendeu biscoitos caseiros durante muito tempo e, ao lado do marido, sustentou os quatro filhos.
“Fiz de tudo para meus filhos terem chance de competir de igual para igual com outras pessoas. Todos fizeram faculdade e são concursados. Sou a mulher mais realizada do mundo”
Nely Rocha de Figueiredo
Em 2005, acima do peso, com pressão arterial e colesterol altos, procurou ajuda médica. Ela foi aconselhada por um especialista a praticar esportes e começou a caminhar. Depois, a trotar, até pegar ritmo de corrida.
Atualmente, ela corre quatro vezes por semana, chega a completar um percurso de 15km em um dia. Faz parte de um clube que madruga no Parque da Cidade para realizar a atividade. A maioria dos colegas de Nely tem a metade da idade dela e muitos deles não compartilham o mesmo vigor.
Nos outros dias da semana, ela vai à academia de ginástica. Alimenta-se de forma saudável e equilibrada, dando preferência a alimentos não processados, e sente a diferença na saúde: já não toma remédios, emagreceu e vive bem disposta.


“Ter acesso a médicos e a uma boa alimentação é um privilégio para poucos. Tudo isso é muito importante para envelhecer bem”
Nely Rocha de Figueiredo
A maior motivação de Nely, que ficou viúva em 2014, é ganhar anos de vida para curtir a família e os cinco netos. “Me sinto amada e, por isso, luto para viver mais e melhor. Por causa deles, quero estar aqui o máximo possível”, conclui.
- DIRETORA-EXECUTIVA
- Lilian Tahan
- EDITORA-EXECUTIVA
- Priscilla Borges
- EDITORA-CHEFE
- Maria Eugênia
- COORDENAÇÃO
- Olívia Meireles
- REPORTAGEM
- Leilane Menezes
- REVISÃO
- Denise Costa
- EDIÇÃO DE FOTOGRAFIA
- Michael Melo
- FOTOGRAFIA
- Igo Estrela
- EDIÇÃO DE ARTE
- Gui Prímola
- VÍDEO
- Gabriel Foster
- TECNOLOGIA
- Allan Rabelo e Saulo Marques