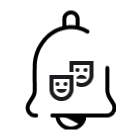Mindhunter: segunda temporada amplia série ao debater racismo nos EUA
Novos episódios põem teses sobre serial killers em prática durante investigação sobre assassinatos de crianças negras em Atlanta
atualizado
Compartilhar notícia

Se a primeira temporada de Mindhunter, série da Netflix, narra o início dos estudos comportamentais sobre métodos, padrões e perfis de serial killers, a segunda vai a campo e põe em prática as teses científicas buriladas nos porões da sede do FBI, em Quantico (estado americano da Virgínia). Desta vez, a Unidade de Ciência Comportamental (Behavioral Science Unit, em inglês) ganha status na agência.
Sai de cena o exaurido Robert Shepard (Cotter Smith), responsável por coordenar o setor, e entra Ted Gunn (Michael Cerveris), figura mais jovial e aberta às novidades apresentadas pelo núcleo duro do UCC: os agentes especiais Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany), pontos de contato da pesquisa com autores de crimes violentos, entrevistados pelos policiais em penitenciárias e prisões de segurança máxima, e a psicóloga Wendy Carr (Anna Torv), intelectual que ajuda o FBI a sistematizar a pesquisa.
Ciência x realidade
As conversas com assassinos servem, primeiramente, ao intelecto: transcrições aos montes de horas de encontros com criminosos seguidas de leitura, discussão e elaboração de teses. Uma das novas fontes é Charles Manson (Damon Herriman, que também encarnou o psicopata em Era uma Vez em Hollywood). Depois, como apoio para a apuração de casos “frescos”, em andamento. É o que Gunn quer: resultados práticos – prisões, leia-se – para que o UCC suba degraus na hierarquia da agência.
Ford, Tench e Carr sofrem acachapante choque de realidade quando a ciência é confrontada com a realidade sem filtros dos Estados Unidos. Em especial, os assassinatos de crianças negras em Atlanta, entre 1979 e 1981.
Novamente sem recorrer a flashbacks, Mindhunter leva adiante o que se viu com fartura na primeira temporada: atmosfera tensa, de constante ameaça, desenvolvida sem truques fáceis de edição e roteiro. Bastam plano e contraplano bem enquadrados e trilha algo insidiosa para que a mínima troca gestual e verbal entre agentes e assassinos soe tão ameaçadora quanto os segundos finais de uma bomba-relógio – que jamais explode.
Crônica da frustração
Talvez ninguém construa melhor esse jogo de encenação entre o que se vê e o que se imagina – a ausência de narração em off e flashbacks é um baita estímulo a imagens mentais – do que David Fincher, principal diretor da série.
Fincher assina os três primeiros capítulos da segunda temporada, quando Ford, em Atlanta para entrevistar um par de assassinos, é intimado por um grupo de mães a dar atenção às crianças desaparecidas (e possivelmente mortas) na cidade.
Recém-traumatizado por seu, digamos, singelo encontro com Ed Kemper no fim da temporada passada, ele logo se apressa a criar um perfil do assassino e dá de cara com uma série de delicadezas administrativas, técnicas e políticas de uma investigação real.
A burocracia para plantar escutas na casa de um suspeito, a papelada por trás de um simples passo adiante na investigação, a dificuldade em destacar o parco efetivo policial da região para campanas. O ano dois de Mindhunter lembra ainda mais Zodíaco (2007), a obra-prima fincheriana: uma crônica sobre a frustração de apanhar o vazio, perseguir fantasmas, esperar um assassino que nunca se apresenta, procurar pistas invisíveis, fazer tocaias que não dão em nada. O lado mais cru, cruel e, por isso, autêntico de uma penosa investigação policial.
Racismo
Andrew Dominik (O Homem da Máfia, O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford) dirige os episódios 4 e 5. E Carl Franklin (O Diabo Veste Azul), cineasta negro, responde pelos quatro últimos, quando Ford e Tench conhecem de perto os ecos cotidianos do racismo socialmente enraizado no país.

Pelo menos 28 pessoas, a maioria crianças e adolescentes negros, sumiram e foram encontradas mortas, para o desespero da comunidade. Mas, no fim das contas, apenas um suspeito de matar dois adultos é preso e condenado. Autoridades (policiais, jurídicas e estatais) se dão por satisfeitas e partem para outra. As outras dezenas de casos seguem sem resposta até hoje.
Tench também experimenta na prática os relevos assustadores da UCC quando seu filho, Brian (Zachary Scott Ross), testemunha o assassinato de uma criança. Quão horripilante é vislumbrar seu rebento como possível semelhante aos homens hediondos que ele visita na cadeia?
A série jamais especula algo assim tão direto. Mas essa sugestão se infiltra o tempo inteiro, nas idas e vindas de Tench entre Atlanta e Quantico e nas contendas com a esposa, Nancy (Stacey Roca), igualmente apavorada.

Outro elo entre trabalho e vida pessoal encontra vulto em Carr, discreta intelectual lésbica ciente de que não seria aceita no ambiente de trabalho deveras masculino e machista, onde homens ainda consideram a homossexualidade um desvio, um curto-circuito. Seu novo romance com Kay (Lauren Glazier), bartender abertamente gay, só amplifica essa sensação de que a profissão sufoca seu verdadeiro eu.
Ainda correm em paralelo à trama principal as sutis aparições do assassino BTK (bind, torture, kill; amarrar, torturar, matar, em português), ativo e no radar do UCC. O segmento parece sobrar na narrativa, apesar de obviamente nutrir curiosidade do público para futuras temporadas.
Avaliação: Ótimo