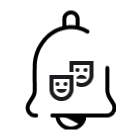Entenda o que está por trás da crise das melhores guitarras do mundo
A falência da Fender e da Gibson expõem rupturas com um modo de se fazer música
atualizado
Compartilhar notícia

Quando as duas maiores fabricantes de guitarra do mundo, Fender e Gibson, abaixam o volume ao mesmo tempo, algo acontece além de distúrbios econômicos e coices cambiais. Fender e Gibson são os dois únicos casos de marcas a transpassar a condição de instrumentos musicais para se tornarem símbolos comportamentais de pelo menos cinco gerações. A Gibson, ativa por 124 anos, criou um exército de jovens inspirados pelas lágrimas de Lucille, nas mãos de BB King por 70 anos; ajudou a criar a linguagem para a guitarra no jazz com o modelo L5 de Wes Montgomery; fez o rock and roll sair da adolescência dando peso ao AC/DC, de Angus Young, e ao Led Zeppelin, de Jimmy Page; e seguiu sólida e robusta, mesmo barateando sua produção com madeiras inferiores, até produzir Slash nos anos 80, o último gigante da escola do hard rock.
A Fender veio em 1946 para rachar o planeta dos guitarristas em dois. Se a fúria da adolescência tinha a voz rascante da Gibson, a criação de Leo Fender trazia o timbre dos anjos, uma hipnotizante qualidade de som que, limpo ou distorcido, criaria novas linguagens nos solos de Eric Clapton, Jimi Hendrix, Mark Knopfler, David Gilmour, Rory Gallagher, Ritchie Blackmore, Jeff Beck, Tony Iommi, Stevie Ray Vaughan e Richie Sambora até produzir John Mayer em 1999, o último exemplar de um – sem julgamentos de valor, mas de abrangência – guitar Hero.
E então, vamos às bandas: depois de cinco anos, a expectativa era grande para o lançamento do sexto disco de estúdio do Arctic Monkeys. Tranquility Base Hotel & Casino surgiu nesta sexta, 11, causando burburinho. As guitarras distorcidas, sempre presentes nos álbuns anteriores, deram lugar ao piano. A chamada ‘sujeira de garagem’, peculiar nos trabalhos de Alex Turner e trupe, incluindo no antecessor e bem-sucedido AM (2013), simplesmente desapareceu. Segundo as palavras do próprio Turner em entrevistas a veículos ingleses e norte-americanos, nada que saísse da guitarra o surpreendia mais. Mutação? Um novo estado de espírito? Ele não contou. Fato percebido é que o Arctic Monkeys abandonou as guitarras e seguiu por um caminho totalmente novo.
Se os Arctic Monkeys deram adeus às guitarras em sua nova temporada, os solos, essa artimanha já chamada de potência máxima do rock, saíram de moda há algum tempo. Na cena brasileira, poucas bandas – ou quase nenhuma – tentam se aventurar por eles. Os baianos do Maglore, donos de um dos melhores discos no ano passado, Todas as Bandeiras, são um bom exemplo. “A tecladeira explodiu nos anos 1980 e hoje está de volta. É só lembrar do Joy Division e das trocentas bandas que usavam sintetizadores para dizer que a guitarra, naquela época, estava em baixa com relação ao que era dez anos antes”, diz Teago Oliveira, 32, vocalista e guitarrista da banda. “Com um computador você faz hoje som de bateria, teclado, synths e ainda sampleia uma obra de Bach. Convenhamos, é bem melhor do que comprar uma guitarra”, afirma.
A culpa, na análise de Tony Bellotto, é dos próprios guitarristas. Solos intermináveis, repetidos à exaustão, foram minando a resistência dos ouvintes até chegar ao ponto de desgaste, diz o guitarrista dos Titãs. “Lulu Santos me disse uma vez que os solos de guitarra são como o latim, uma língua morta. Acredito que esteticamente eles foram ficando uma amostra fria de talento. O solo exagerado se tornou uma coisa cafona, um exagero desnecessário.” Edgard Scandurra, guitarrista do Ira!, pensa de maneira semelhante. “O virtuosismo do solo, aquela coisa velocista, deixou tudo muito chato. Isso gerou uma outra linha dentro do rock, a linha de contemplação, admiração e que serve apenas para dizer como o cara é bom.”
A retração das guitarras não pode ser considerada um anúncio do apocalipse, dizem especialistas no setor. Outras crises passaram e elas continuaram nas vitrines, como lembra Marcos Brandão, gerente de vendas e marketing da importadora oficial da Fender no Brasil. “A crise da Gibson não pode ser confundida com a crise da guitarra. O problema ali foi por má administração”, ele diz, recordando que a Fender também conheceu seus piores dias nos anos 80, quando sentiu a chegada dos sintetizadores. “Isso fez com que a empresa pedisse concordata em 1986.” Sua visão é otimista. “A guitarra pode deixar de ser um símbolo para as novas gerações, mas jamais vai deixar de existir.”
Celio Ramos é diretor executivo na EM&T, a Escola de Música e Tecnologia, um dos centros de ensino referenciais em São Paulo. Ele diz que não houve queda de alunos de guitarra em sua empresa “Mas a escola triplicou de tamanho de 1997 para cá. Era para termos uns três mil.” Ramos percebe três pontos que levam a uma mudança de comportamento. “A crise, que sempre torna a música um artigo supérfluo; o nível cultural dos jovens, que tem baixado nos últimos anos; e a troca de interesses dos instrumentos pela tecnologia.” O rock, antes uma música de massa, virou segmento. “O sertanejo cresceu por ter patrocínio e o gospel, por ter o palco das igrejas”, compara Ramos.
As lojas também adotaram estratégias para superar o momento. João Carlos Favato Junior, responsável pela Made In Brazil, a maior loja do País, diz que a empresa enxugou os produtos e centrou as atenções nas melhores marcas. “Não precisamos contar histórias para vender uma Fender, uma Gibson, uma Ibanez. Antes, eram muitas marcas.” Dentre seu conjunto de razões para uma timidez maior diante do instrumento, está um fator geracional: a fábrica dos guitar heroes foi desativada por volta do começo dos anos 2000. “John Mayer foi o último deles”, diz, citando o popstar que lançou seu primeiro disco em 1999.
Entre educadores, também existe a percepção de uma certa mudança de foco dos mais jovens. O guitarrista e professor Demma K diz o seguinte: “Os adolescentes tinham antes de mergulhar em uma piscina de 30 metros de profundidade para voltar com algum conhecimento. Hoje, muitos querem sair tocando depois de nadar em um pires”.