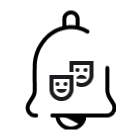Documentário conta a história da gravadora Banguela
Lar de bandas de rock alternativo dos anos 1990, como as brasilienses Raimundos e Little Quail, o selo fonográfico é o tema do filme “Sem Dentes”, que tem sessão única nesta quinta (8/10), no Cine Brasília
atualizado
Compartilhar notícia

Foram apenas dois anos de atividades, entre 1994 e 1995, mas a gravadora Banguela Records mudou o panorama do rock brasileiro. Um pouco dessa história está sendo resgatado agora pelo documentário “Sem Dentes”. Dirigido pelo jornalista musical Ricardo Alexandre, o filme ganha uma exibição especial no Cine Brasília, às 21h de quinta-feira (8/10).
Criado pelo jornalista e agitador cultural Carlos Eduardo Miranda em parceria com os músicos da banda paulista Titãs, o Banguela era subsidiário da mega gravadora Warner e reuniu, naquela curta existência, lastro empresarial e liberdade artística suficientes para lançar alguns clássicos do rock nacional.
“Raimundos”, o disco de estreia do quarteto brasiliense (foto no alto), foi o primeiro lançamento do Banguela. Estourou ligeiro, em meados de 1994, vendendo mais de 150 mil cópias e já garantindo para o grupo um contrato com a própria Warner. Outras três bandas de Brasília também integraram o selo: Little Quail, Maskavo Roots e Pravda. Destaque ainda para os pernambucanos do mundo livre s/a e os gaúchos da Graforreia Xilarmônica, para citar dois conjuntos ainda hoje cultuados.
Ricardo Alexandre, diretor de “Sem Dentes” e testemunha daquela época, conversa com o Metrópoles sobre o legado do Banguela e as trajetórias de alguns dos artistas brasilienses que por ali passaram.

Qual a importância da gravadora Banguela para o rock brasileiro da década de 1990?
O Banguela é o símbolo de um espírito que existiu entre 1992 e 1996, eu diria, que centralizava o sonho da cultura alternativa e a vontade de romper a barreira do mainstream fazendo um som com visão independente. Um espírito que centralizava todas aquelas aspirações da cultura independente, do underground, dos fanzines, de uma nova geração, da mistura do global com o regional… Acho que a grande importância do Banguela é resumir um espírito que obviamente estava espalhado também em outros selos, outras pessoas, outros artistas. Até pela capacidade sintética do Banguela e por ele ter durado pouco, ali ficou muito claro o espírito de uma época.
Sem o fenômeno Nirvana e a ascensão do chamado rock “alternativo” em escala planetária, iniciativas como os selos Banguela, Plug (ligado à gravadora BMG) e Chaos (da Sony) teriam existido aqui no Brasil?
O Nirvana teve um papel muito, muito valioso e que ainda não foi absorvido totalmente como história. O Nirvana nos convenceu a todos de que você poderia chegar ao mainstream, a esse grande mercado, levando todas suas idiossincrasias. Porque o underground sempre existiu e o mainstream também sempre existiu. E, na verdade, o que acontecia até os anos 1980 é que as bandas que vinham do mercado independente tinham que diluir seu som quando chegavam nas grandes gravadoras, ou pelo menos era o que a gente imaginava que acontecia. O Nirvana e, antes dele, o R.E.M. e os Guns N’Roses provaram que você podia chegar a uma grande estrutura trazendo uma visão alternativizada da vida. Isso foi muito valioso, não só para os artistas daquela época e para esses selos que você citou, mas para todo o meio musical, inclusive os jornalistas, os caras que faziam camisetas e mexiam com moda, os fanzineiros, os videomakers. Foi um momento muito bonito.
Que entendimento você tem hoje, mais de uma década depois, sobre Rodolfo Abrantes ter deixado os Raimundos no auge do sucesso?
Bom, evidentemente isso não é parte do filme, o filme vai só até o fim do Banguela. Na minha opinião, Rodolfo teve problemas muito sérios com o mainstream, com o pop. Na época ele me dizia isso, que se sentia envergonhado de ir na televisão para cantar “O Reggae do Manero” ou “Me Lambe”, aquelas músicas mais adolescentes que os Raimundos tinham. Ele olhava pro O Rappa e queria ser como O Rappa, cantando músicas que mudassem a vida das pessoas. Ele falava isso também depois da conversão dele para o cristianismo evangélico. Mas o grande problema do Rodolfo foi este: ele não quis pagar o preço que todo artista do mainstream, como eram os Raimundos na época do disco “Só no Forevis”, tem que pagar, o preço de fazer um papel de palhaço. Ele ficou incomodado com isso. E como isso se desenrolou foi muito fruto da inconsequência de todos eles, da imaturidade deles e dos nervos à flor da pele em uma banda que estava fazendo tantos shows, tantos discos, tanto tudo.

Gabriel Thomaz parece ser uma figura ímpar no rock brasileiro, não? Como você analisa a trajetória dele no Little Quail e no Autoramas?
Little Quail e Autoramas têm um fio condutor, que é o Gabriel com a manha pop dele, mas acho que são propostas muito diferentes. O Little Quail tinha uma ambição pop, uma natureza pop muito interessante e muito própria daquela época. A ambição de achar que uma banda de garage rock, tão idiossincrática e com um nome daqueles, pudesse ser uma banda mainstream. E realmente todo mundo achava que podia ser uma banda mainstream. Tenho receio que eles também achassem isso… Já o Autoramas tem no seu DNA uma estrutura, uma ambição de ser uma grande banda underground. Eles não têm expectativa de furar o bloqueio do mainstream, e nunca tiveram, pelo menos no meu entendimento. Parece que o grande objetivo deles é exaurir as possibilidades de um circuito independente alternativo autossustentável. O que eu acho que é incrível. É uma missão impressionante. E eles têm conseguido fazer isso, né? Eu sou um cara do pop, gostaria que o Autoramas eventualmente tentasse romper essa barreira em direção ao mainstream, mas entendo que eles não queiram e entendo que isso talvez tenha a ver com a história de o Little Quail não ter conseguido.
Em Brasília, o fracasso comercial do primeiro disco do Maskavo Roots foi um choque para quem mantinha altas expectativas em torno da banda. Os próprios integrantes do conjunto pareciam pegos de surpresa. O que aconteceu?
Cara, tem dois jeitos de responder a essa pergunta. O primeiro é: o que aconteceu com o Maskavo Roots tem a ver com uma questão empresarial que a gente gravou para o filme mas que a gente limou por receio de receber processos. E também não vou te falar porque, se não quero que o filme receba processos, o que dirá eu, como pessoa física, né? (risos) Mas a resposta mais adequada, digamos assim, é que o Maskavo Roots serve como prova de que há muitas outras circunstâncias envolvidas em torno de uma banda que são mais determinantes para seu sucesso ou para seu fracasso do que o talento, a capacidade e mesmo o potencial pop ou radiofônico dessa banda. Ali foram forças de circunstâncias, de opções mercadológicas, de empresários, de business mesmo. Foram escolhas erradas que acabaram minando o próprio ânimo dos músicos e influenciando na estrutura emocional e artística dos caras. Não é uma história única, mas é uma história trágica em relação a essa geração dos anos 1990 porque, realmente, o Maskavo Roots era uma das mais pops entre todas as bandas da época.

*Zé Maria Palmieri/Divulgação*
Você já tinha escrito o livro “Cheguei Bem a Tempo de Ver o Palco Desabar” (Arquipélago Editorial, 2013) e agora apresenta o documentário “Sem Dentes”. Ambos tratam do rock brasileiro da década de 1990. Qual a importância de voltar a essa época?
O livro é muito pessoal, é todo em primeira pessoa, contando a minha história. O filme é de alguma maneira fruto do livro porque Alexandre Petillo, produtor do filme e que fez o roteiro junto comigo, leu o livro e entendeu que ali havia um documentário. Foi ele também quem lembrou dos 20 anos do Banguela, que foram completados no ano passado. Filme e livro são tentativas de dar uma visão histórica para uma geração que não é muito levada a sério. Ficou um pouco esse ranço das bandas engraçadinhas, que foi puxado pelo Mamonas Assassinas, e essa geração ficou marcada como uma grande tolice. O que não é verdade. Mesmo nas bandas mais bem-humoradas daquela época, o caminho delas não era a graça, não era o besteirol. O Mamonas era Os Trapalhões. Mas o Raimundos não era Os Trapalhões. Era uma banda que tinha outras virtudes, vinha de outras circunstâncias. Então, acho que o filme mostra isso, os valores dessa geração e como ela conseguiu cristalizar um pop legitimamente brasileiro.
Há a possibilidade de algo como o Banguela voltar a acontecer no rock brasileiro? Não me refiro necessariamente ao aspecto empresarial e fonográfico, mas sim no que diz respeito ao momento geracional, ao encontro de tantos artistas com tantas linguagens próprias em momentos semelhantes de amadurecimento artístico?
Tenho um programa de rádio totalmente dedicado a bandas novas, o “Ouve Essa”, e te garanto que o som que hoje se faz no Brasil, e no mundo, é muito melhor do que era feito em 1994. Hoje, o que não temos mais são aquelas circunstâncias. E isso em grande parte pela velocidade com que as plataformas mudam. Por exemplo, há dois anos falávamos de iTunes e download, e agora já não se fala mais disso, agora se fala de streaming. Daqui um ano e meio, quando todo mundo se organizar, também já não vai ser mais o streaming, vai ser sei lá o quê. Nessa velocidade, as gerações ficam muito inseguras de se reconhecerem mutuamente. Então, há uma fragmentação muito grande de opiniões, perspectivas, vontades e ambições. Esse é um dificultador. Já nos anos 1990, tínhamos poucos players em ação no mercado. Tínhamos a MTV, os selos, os fanzines. Era um pouco mais claro o que unia todas essas pessoas.
Dito isso, o que eu sinto muita falta em relação ao Banguela, e espero que essa seja uma das lições que o filme transmita, é a importância de uma direção artística. O Banguela é um triunfo da direção artística. Tanto dos Titãs quanto do Carlos Eduardo Miranda. E eu vejo atualmente uma geração que acha muito desagradável ser dirigida artisticamente pois se sente em seu pleno poder criador. Mas não acho que exista contrassenso em você ser livre para criar e ter um editor, um diretor artístico que te oriente.
E há ainda uma segunda lição no Banguela, também muito importante. Que é o expediente de você fazer com seus próprios canais e ser independente. O sonho do rock brasileiro de hoje é ser dependente. Ser dependente de leis de incentivo, ser dependente de editais, ser dependente de curadores. É um espírito inverso ao que havia naquela época, quando não tínhamos nenhuma estrutura, nenhum dinheiro e achávamos que era possível fazer à margem do sistema. Hoje temos fartura de meios de produção e o que todo mundo quer é um patrocínio, uma Petrobras ou um Sesc. Nesse sentido, gostaria que este filme servisse para incentivar as futuras gerações.