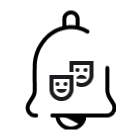Fotógrafo Vincent Rosenblatt fala sobre funk como “lugar de respeito”
Francês radicado no Rio de Janeiro veio a Brasília para participar de oficinas do festival Favela Sounds e projetar fotos no Museu Nacional
atualizado
Compartilhar notícia

Vincent Rosenblatt ainda quer voltar a Brasília para conhecer melhor os espaços periféricos da capital do país. Há quinze anos radicado no Rio de Janeiro, onde dedicou milhares de horas a registrar manifestações culturais das favelas, sobretudo os bailes funk, o parisiense veio a Brasília esta semana para conduzir oficina dentro do segundo festival Favela Sounds.
A casa de Rosenblatt por aqui foi Ceilândia, onde os workshops de fotografia tomaram corpo. No sábado (4/11), às 19h30, o resultado dos encontros e fotos do francês serão projetados no Museu Nacional Honestino Guimarães.
A visita foi breve demais para que Rosenblatt pudesse visitar as quebradas da região. “Fora o Jovem de Expressão (na Praça do Cidadão, local das oficinas), não tive tempo de ver Ceilândia. Mas quero saber o que a galera está inventando para driblar o lado cinza da capital. No Rio, é o baile funk”, diz o fotógrafo ao Metrópoles.
Em longa e frutífera conversa com a reportagem, o francês detalha seu processo criativo no Rio, fala sobre o novo projeto que vem realizando e alerta para a violência invisível que afeta as manifestações culturais da periferia.
Leia entrevista completa com o fotógrafo Vincent Rosenblatt:
Você veio a Brasília em 2007 para mostrar imagens do projeto “Olhares do Morro”, sua primeira série longa realizada no Rio, na favela de Santa Marta. Voltando hoje à capital, quais as suas impressões da cidade?
Na época, vim com cinco dos meus alunos jovens fotógrafos e mostrei o início do meu trabalho no funk. Acho Brasília um pouco triste. Não é uma cidade para pedestres, pra vida na rua, pra espaço público e interações. É uma cidade na qual dá pra ver o processo de segregação social, racial, muito nitidamente. Pra alguém mimado como eu que cresceu em Paris e vive no Rio, Brasília é sempre um pequeno choque de realidade! (risos).
Você deve ter ficado chocado e indignado com o recente projeto de lei que tentou criminalizar o funk – em setembro, a sugestão foi rejeitada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, no Senado Federal.
É, mas isso não é de dois meses atrás. É de vinte anos atrás. Você vê equipe de som, paredões de caixas de som destruídas arbitrariamente pela Polícia Militar quando ela não recebe arrego (propina paga pelo tráfico a agentes). A internet tá cheia de vídeos de sound systems (sistemas de som) sendo queimados em fogueiras pela PM. Às vezes com funkeiros obrigados a fazer ciranda ao redor cantando louvor ao batalhão. É o único gênero musical que sofre leis específicas para regulamentação.
As tentativas de abafar, destruir funcionam. O cenário do funk carioca está um cemitério. Hoje temos poucos bailes. Talvez 5% do que existia há dez anos. Isso é problemático porque o baile é o lugar do surgimento de novos talentos. Era o YouTube de dez anos atrás. Os governos do Rio tentam uma síntese impossível. De um lado a Secretaria de Segurança não controla a tropa, que às vezes por opção religiosa destrói um baile. Às vezes tem a questão do arrego.
Do outro, a Secretaria de Cultura, que nos últimos anos inventou de fazer editais para os produtores das favelas. O que é lindo: os jovens podem fazer seus projetos sem filtros ou intermediários de um produtor da zona sul. Mas esses projetos muitas vezes são barrados pelas forças de segurança. Funk é patrimônio cultural do Rio, mas tem pouquíssimos bailes para ir.
Esse estado de coisas atual extremamente violento e tenso também tem atrapalhado a sobrevivência dos funkeiros?
O baile funk é um lugar seguro, de disciplina, de controle social, apesar da presença das armas etc. É um lugar de respeito, onde não se mexe com as pessoas, com as mulheres. Ao contrário de um baile no asfalto, no clube, na cidade formal, onde não há a mesma disciplina. A violência atrapalha a válvula de escape da cultura. Gerações inteiras de jovens não podem curtir seu som em seu território: isso é um fator de violência.
Por que no clube da Barra ou da zona sul pode tocar qualquer funk, os mais usados, proibidões, mas quem compôs e fez a música não pode colocar na sua laje, na sua quebrada? Quem sofre de todo tipo de violência é morador e funkeiro. Não só do assalto e da bala perdida, mas da opressão econômica, social, racial.
Você tem três grandes séries fotográficas: “Rio Baile Funk”, “Tecnobrega” e “Bate-Bolas: O Carnaval Secreto do Rio”. Vem trabalhando em algo novo do último ano para cá?
Estou mergulhado na nova cena de festas pretas, do protagonismo preto que tem surgido não só no Rio. Cena que traz fervor libertário parecido com o baile funk. Festas como Batekoo, Yolo Love Party, Black Santa. Uma nova geração de produtores negros que fazem festas que significam muito mais que entretenimento. Não são para beber, se entreter e consumir. Fortalecem identidades.
Essas festas vêm junto com todo um movimento de estilo, autoestima através da moda. A revolução do cabelo afro que a gente vê de três anos para cá. É uma galera que se ama e se liberta, que assume todo o arco-íris das possibilidades LGBT, trans e drag. As festas são laboratórios experimentais de brasis possíveis. Chamo essa série provisoriamente de “Rio Black Rise” ou “Brasil Black Rise”, mas ainda não postei nada.
Como foi a experiência de fotografar o tecnobrega no Pará? Há pontos de contato com o funk carioca?
Nenhum lugar tem essa cultura da encarnação visual da música através da cosmogonia de robôs, mesas de DJs, algumas gigantes, outras médias e pequenas espalhadas numa multidão de aparelhos de som. Se existe o afrofuturismo, lá tem o caboclo futurismo. Tem a ver com baile funk. O funk toca lá e foi remixado e reinterpretado para o gosto paraense. Mas o tecnobrega ocupa os mesmos espaços simbólicos do funk.
A sorte dessa cena é não ter sido destruída pelo Estado. As famílias do tecnobrega conseguiram capitalizar. Mal ou bem há uma concorrência feroz entre eles. Com a mesma intensidade do rap nos Estados Unidos, costa oeste, costa leste. As aparelhagens criaram um modelo econômico independente do mercado oficial. Isso dá a noção de como poderiam viver as periferias do Brasil se os governos não destruíssem e o preconceito não estragasse essas manifestações. Dá ideia do que poderia ter sido o funk carioca se não fosse a repressão selvagem.
De certa maneira a sua fotografia funciona como interlocutora da cultura das favelas com a sociedade, um espaço que a imprensa deveria ocupar. Como é a sua relação com a fotografia para além do registro e a imprensa do Rio?
O presente se torna documentação histórica porque os bailes que fotografei entre 2005 e 2010 não existem mais. É o retrato de uma juventude carioca periférica que está subdocumentada, na verdade. Esses temas de longa duração são recortes meus. Quase nunca publiquei na imprensa carioca porque a maioria das matérias eram negativas.
O DJ Pernalonga, que faleceu duas semanas atrás, foi o primeiro que me convidou para fotografar. Foi o Baile da Árvore Seca, no Complexo do Lins. Ele tinha essa noção de que era efêmero e queria mostrar para o mundo o baile que reunia dez mil pessoas numa favela desconhecida. Se continuo a fazer até hoje, é porque a galera me chama e gosta do meu olhar.