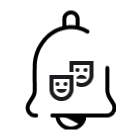Cecília Bona conta sobre a experiência de isolamento em uma fazenda na Islândia
Produção concebida por lá pela artista brasiliense pode ser vista até 19/12 na Alfinete Galeria
atualizado
Compartilhar notícia

Cecília Bona está radiante com o livro que acaba de comprar. “Gemas da Terra: Imaginação Estética e Hospitalidade”, edição do Sesc organizada por Denise Milan, traz textos teóricos sobre arte contemporânea e paisagem. Folheando o volume ao acaso, Cecília encontra uma frase de Jean Galard, professor de filosofia da USP e ex-diretor do Museu do Louvre, que vem bem a calhar.
“O homem é um mero passageiro do mundo”, Cecília lê em voz alta, e sorri, fechando o livro com carinho e guardando na mochila. Pequenas preciosidades como um livro garimpado numa livraria da cidade dão a ela a certeza de que está no rumo certo.
A brasiliense Cecília Bona, 36 anos, se formou em design pela Universidade de Brasília e trabalhou na linha de produção em uma fábrica de balanças e uma fábrica de óculos. Ao fazer mestrado no Instituto de Artes da UnB, chancelou academicamente a mudança que já ocorria dentro dela: do design industrial para a arte contemporânea.
Cecília neste momento ocupa a Galeria Alfinete com a mostra “Terreno Instável”, em que apresenta sua mais recente produção, concebida sob o impacto de sua residência artística no interior da Islândia, em maio passado.
(Acompanhe abaixo três intervenções de Cecília Bona feitas com “cacos”de acrílico… Na paisagem islandesa, nesta viagem em maio; na marquise da Funarte Brasília, em dezembro de 2013, e na fachada da Alfinete, em março de 2014.)
Luz e espaço
Entre fotografias, esculturas, desenhos e vídeos desta recente produção, Cecília Bona promove uma segunda guinada na carreira. Seu interesse pela luz e pela maneira com que objetos cotidianos absorvem e refletem os raios luminosos, que vinha iluminando seus trabalhos até aqui, esta vez fica em segundo plano, diante de peças que mostram o interesse poético da artista pela paisagem peculiar que encontrou na Islândia: pedras, lava congelada e musgos.
Em 12 de dezembro, às 19h, Cecília lança na Alfinete Galeria o livro “Tempo Instável”. Nas 36 páginas do volume estão o relatório que ela escreveu sobre a residência artística, um texto da curadora Yana Tamayo, o registro fotográfico das peças que compõem a mostra e imagens que Cecília fez na Islândia. Os trabalhos que estão na Alfinete mostram pouco da paisagem islandesa, aspecto que será mais explorado no livro.
Aqui ela conta ao Metrópoles um pouco sobre sua temporada na Islândia…

Cecília, por que tão longe?
Olha… Acho que meu interesse pela Islândia surgiu, inevitavelmente, vou ter que falar, por causa da Björk. Acho que foi assim com todo mundo da nossa geração. Sempre curti Björk e os Sugarcubes, a partir daí fui construindo um fascínio pelo país. E a aproximação se estreitou quando comecei a estudar arte, estudar artistas como Ólafur Éliasson, uma grande referência pra mim.
E daí a viajar para a Islândia….
Eu tinha sido extremamente produtiva durante o mestrado que fiz na UnB, à medida em que estava sendo provocada por determinado tema, lendo e estudando, e a resposta começava a vir em forma de projetos e trabalhos. Quando terminei o mestrado, minha produção deu uma freada. Ninguém vive só de arte, né? Sou professora, sou mãe, então tenho certa dificuldade em me disciplinar e dedicar um tempo para produzir. Daí surgiu a ideia de fazer uma residência. Estava buscando através do site ResArtis, que funciona como uma rede mundial para residências artísticas. E apareceu essa na Islândia. Na mesma hora, voltaram para mim todas as referências que eu já tinha do país e também a questão da luz, que para mim é muito forte. Fiz um projeto, me inscrevi e fui selecionada.
Como era esse projeto?
Tinha a ver com luz, eu sempre trabalhei com luz. Para o projeto, eu me submeteria à experiência das excessivas horas de luz que poderia pegar na Islândia. Na época em que fui, maio, os dias chegavam a ter 22 horas de luz. No final do meu mestrado, eu tinha descoberto que tão importante quanto a luz é a sombra. Então queria experimentar esse excesso de luz até para saber valorizar sua ausência: a sombra e a escuridão. Por isso, aqui em Brasília já tinha feito a instalação “Cacos”, que lidava com a trajetória do sol e com as pinturas que as sombras faziam sobre o chão ao longo do dia. Enquanto lá na Islândia o sol mal se levanta, o céu não chega a ficar azul como fica aqui e as sombras são constantes.
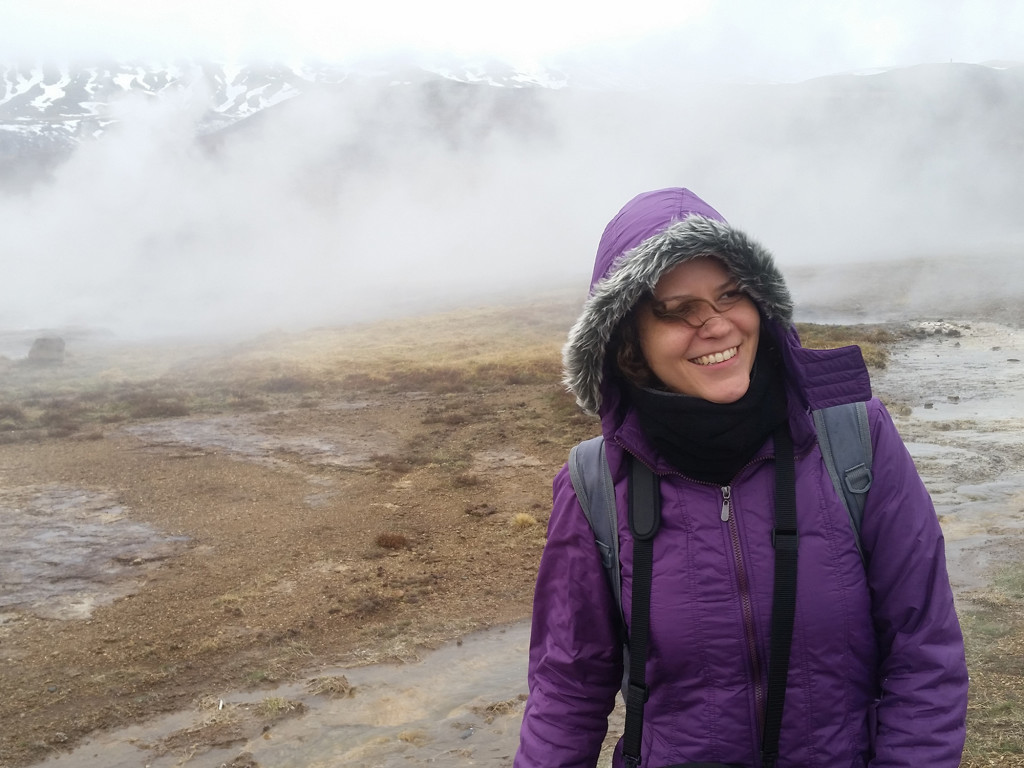
Essa foi sua proposta inicial, mas chegando lá…
Chegando lá o maior impacto foi a experiência de isolamento. Que nem tem a ver com país em si. Reykjavík é uma cidade minúscula, de 150 mil habitantes, mas tem uma vida cultural enorme, tem museus de arte contemporânea super bem frequentados, todo mundo fala inglês, todo mundo toca instrumentos musicais e tem um entendimento de música muito forte. Mas a minha surpresa foi que… Acho que eu não estava preparada para o isolamento que fiquei durante os 20 dias de residência. Não é um isolamento como estar aqui e ir para uma fazenda no interior. Lá na fazenda em que eu fui, Fljótstunga, não tem nada por perto, não tem sequer uma casa, não tem nem bicho. Você levanta uma pedra e debaixo dela não tem inseto.
Pega celular em Fljótstunga?
A Islândia tem 100% de cobertura de internet, mas na fazenda tem uma conexão com limites de dados. Então quando você está em uma residência com mais nove pessoas, depois de uma semana acabou a conexão. O que só aumentou a sensação de isolamento. E aumentou também a percepção do tempo. Quando você está sozinha, o tempo fica estendido.
Como você criava nessa situação? Você se cobrava ser produtiva?
Muito, muito. Isso é muito difícil. Era uma pressão para mim porque estava lá com o dinheiro de outro país, que não era o meu, e eu não queria ser a brasileira que foi lá passear e não fez nada. E tem também a pressão deles: os residentes tiveram que fazer apresentação lá mesmo para o Comitê de Cultura do Oeste da Islândia, que é composto por quatro velhinhos ótimos, bons de papo. Mas a pressão era ainda maior por você se ver numa condição vulnerável. Ali você não conhece ninguém, não tem socorro, não tem porto seguro, então você se coloca em alerta o tempo todo. Acho que a virada no meu trabalho aconteceu exatamente por conta disso.
Que virada foi essa?
Eu estava muito confortável. Tinha ido com os meus livros, o meu material de acrílico e cheguei lá para descobrir que não era nada daquilo. Eu tinha levado um pedaço do meu mundo e ali era um outro mundo. Não tinha como dar continuidade ao que saí pensando daqui. Essa virada se deu muito por conta do espaço. O que não deixa de ser outra maneira de enxergar a questão de luz, como eu agora percebo, pois a luz ao lado de espaço e tempo, que foram as duas coisas que pegaram muito para mim ali, estão diretamente ligados. A luz é a marcação do espaço: o espaço se encerra até onde a luz alcança. E de certa forma a luz é também a marcação do tempo: a gente reconhece a passagem das horas e dos dias por conta dela. Então talvez eu nem tenha me afastado muito da minha questão original, tenha apenas entendido outros aspectos.

Como era um dia em Fljótstunga?
Logo no primeiro dia, a dona da fazenda tinha feito uma reunião com todo mundo, entregando um mapa e indicando os pontos principais da fazenda. Todos os dias eu tomava um café da manhã e saía da minha cabana para caminhar dentro dos limites da fazenda. Eu sempre levava na mochila a câmera, mas nem sempre levava o tripé, por ser muito pesado. Levava também um lanche e uma garrafa de água, que congelava, era ridículo… E cachecol, gorro, luva, sabe-se lá o que ia acontecer. Levava também o celular, para usar o GPS e uma foto do mapa da fazenda.
Você andava sozinha? Não se perdia?
Tenho filho de 4 anos, estou acostumada a acordar cedíssimo. Minha cabana ficava um pouco mais isolada que as outras, então acordava cedo e imaginava que todos ainda estivessem dormindo. Só nos últimos dias deixei de sair sozinha. Tinha ficado mais próxima da dinamarquesa Tina Madsen, que estava fazendo performances na fazenda, rolando pelas pedras, e ela precisava de alguém para filmá-la. A gente foi se ajudando nos últimos dias. Mas eu não tinha problema de ir sozinha, porque não havia risco de me perder. A visão é muito distante pois a paisagem toda é muito aberta, a vegetação é baixa e a fazenda tem um turismo frequente, então existem trilhas demarcadas através de pilhas de pedras que servem para orientação.
Não dava uma monotonia?
Não, em nenhum momento. A fazenda é bem comprida, cheguei a caminhar 21 quilômetros no dia em que fui até o fundo dela, em toda sua extensão: 21 para ir, 21 para voltar. Dava para caminhar 12, 13 horas por dia já que não anoitecia direito e não havia o perigo de ficar sozinha no escuro. E a fazenda tem muito a ser visto, tem pontos de interesse bem especiais. Tem o maior campo de lava congelada da Islândia, uma caverna, dois rios que cortam suas terras e um sítio arqueológico viking. Um dos limites da fazenda é uma geleira, impressionante. Fui até o ponto em que pude ir, pois as estradas estavam fechadas, elas só abrem no verão, e a própria fazenda já era o limite a que se podia chegar naquela época do ano. De desesperador apenas o vento, né? Quando eu estava com a Tina, chegamos a pegar uma ventania de 80 quilômetros por hora. Não dava nem para ficar de pé. Tivemos de nos abaixar atrás de uma pedra e esperar o vento diminuir.
E como foi chegar às peças da exposição na Alfinete?
Voltei da Islândia em começo de junho e já tinha certa esta data de novembro na Alfinete. Esse tempo entre uma coisa e outra foi muito bom. Eu voltei muito ansiosa, queria mostrar tudo para todo mundo, mas nem todos esses trabalhos que agora estão em cartaz surgiram por lá. Foi preciso um tempo de maturação, aqui em Brasília, para eu entender o que estava fazendo, entender o que entraria na exposição e o que não entraria, e entender como poderia melhorar determinados trabalhos.
Essa experiência pode se refletir em sua obra daqui pra diante?
Acabei de ver aquela frase do Jean Galard: o homem é um mero passageiro do mundo. Vou pensar muito mais nisso. Vou pensar em terra, em paisagem. Acho que a gente está muito autocentrado, todo mundo, a gente se esquece de uma unidade maior, a gente se esquece do espaço que ocupa no mundo. Inevitavelmente vou falar disso. Pesquisar land art… Porque é muito diferente pensar em uma exposição e pensar cada trabalho individualmente. Quando eles estão juntos, como na Alfinete, eles têm uma potência, eles permitem uma construção narrativa. Agora o mais difícil é pensar cada um deles individualmente. Como vai sair dali, cada trabalho individualmente, como vai ser lido em outro contexto, como vai ser suportado, por exemplo, numa mostra coletiva em que não há o conjunto para uni-lo a outros. Este é um desafio.
Até 19 de dezembro, na Alfinete Galeria (116 Norte, Bloco B, Loja 61; 9981-2295). De quarta a sábado, das 15h às 19h30. Entrada franca. Livre.