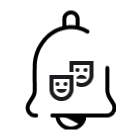Valentina Homem fala de referências pessoais em A Menina e o Pote
Na disputa da Semana da Crítica do Festival de Cannes, Valentina Homem conversou com o Metrópoles nessa quarta-feira (22/5)
atualizado
Compartilhar notícia

Cannes (França) — A co-diretora do curta-metragem A Menina e o Pote, filme na disputa da Semana da Crítica do Festival de Cannes, Valentina Homem conversou com o Metrópoles nessa quarta-feira (22/5). Ao lado de Tati Bond, Nara Normande, Eva Randolph e a antropóloga indígena Francis Baniwa, a cineasta explicou como a sua experiência pessoal transformou-se em uma fábula animada com referências à memória ancestral indígena.
Confira a entrevista completa:
Márcio Sallem: A Menina e o Pote tem uma narrativa que fala da cultura indígena e que utiliza a animação como forma de dar vida a crenças e tradições. Como foi a sua intersecção com um filme sobre a cultura Baniwa?
Valentina Homem: O filme é baseado num conto que eu escrevi, que se chama Conto sobre o Vazio, que não tem nada a ver com nenhuma cosmologia indígena. É um conto que eu escrevi em 2012, tem 12 anos, uma parábola sobre eventos autobiográficos que aconteceram comigo. O conto em si não tem essa vinculação com cultura indígena, mas a estrutura do conto permanece no filme, que é a história da menina, que tem um pote, que quebra, que revela um vazio, e ela perde os contornos e aí ela sai em busca da reconstrução desses contornos e também do pote. Quando ela consegue reconstruir o pote, ela tenta procurar uma tampa para tampar o pote, tampar o vazio que existe dentro dele. É uma tampa muito pequena, ela cai dentro do vazio e por aí vai. Essa estrutura narrativa está no filme.
Anos depois, eu já tinha uma parceria com a Tati, que é animadora, diretora de arte do filme e assina a co-direção. Logo que eu escrevi esse conto, a Tati fez umas ilustrações e a gente começou a pensar na ideia de fazer uma história em quadrinho, fazer um livro, e posteriormente uma animação. Os anos se passaram e eu já tinha uma relação com a cultura indígena. E fui me aproximando um pouco mais desse universo e me aprofundando nas questões envolvendo mudança climática, preservação da floresta, destruição da floresta.
Quando o filme, de fato, começou a se concretizar, a partir de 2017, eu já tinha uma ideia de que eu queria que essa estrutura narrativa da menina estivesse enraizada, aterrada num contexto de floresta e de cultura ameríndia. Foi o ano em que eu li A Queda do Céu, que foi muito importante nesse processo. E em 2018, quando a gente começou, de fato, a fazer o filme, era muito importante para mim trazer para junto do processo de elaboração do roteiro, uma pessoa indígena, uma mulher indígena.
E aí são essas coisas do universo conspirando, porque eu conheci a Francy Baniwa, que é uma antropóloga indígena, cineasta, ativista, que estava naquele momento terminando o mestrado dela em Antropologia no Museu Nacional, sob orientação de Eduardo Viveiros de Castro, que já era uma referência para mim na questão do pensamento ameríndio e também de uma reflexão sobre a questão do fim do mundo, do Antropoceno e das mudanças climáticas e olhando para a cultura ameríndia como um lugar importante da gente olhar para pensar o nosso planeta.
A gente construiu esse roteiro a partir do conto em um processo imersivo: eu, a Francy, a Tati que é a animadora, a Nara Normande, que é a diretora de animação, e a Eva Randolph. A gente passou 10 dias na região de Araras, num sítio. E aí a Francy, realizou uma tradução das cosmologias, das mitologias Baniwa em primeira pessoa, porque essas mitologias já haviam sido traduzidas por antropólogos brancos e homens e ela tava fazendo em primeira mão essa tradução na perspectiva de uma mulher, que também era uma coisa muito nova. E inclusive corrigindo alguns erros de tradução que haviam sido cometidos historicamente. A gente tinha esse intuito de que o filme se constituísse como um filme que falasse desse universo. Então foi assim.

Guilherme Jacobs: À primeira vista, não parece ter muita relação, uma história que é pessoal com a questão da mitologia indígena. O que foi que você sentiu que fazia esses temas ficarem encaixadas, onde que elas se encontram?
Valentina: Porque eu acho que na verdade, a história da menina, do conto, que é uma parábola, que tem muitas metáforas para coisas subjetivas. Antes de virar filme, a “A Menina e o Pote” foi um outro projeto, foi um projeto multimídia que a gente fez no Rio em 2018. A gente ficou nove semanas em cartaz com uma videoinstalação imersiva com uma peça de teatro que acontecia dentro. E eu vejo que a história, essa história de uma menina que tem um pote, que quebra, que revela um vazio, isso acaba sendo universal de várias maneiras, Acho que muitas pessoas se identificam com essa narrativa.
Márcio: Com o vazio que a gente não consegue tampar.
Valentina: Exatamente, com o vazio que não é meu, é de todo mundo: o que eu fiz, na verdade, foi de criar uma vinculação entre essa experiência de vazio e essa experiência de melancolia, essa experiência de a ideia do fim do mundo. Inclusive, essa nem é uma ideia originalmente minha. Bruno Latour, que é um pensador e filósofo francês, fala sobre como a perspectiva de fim do mundo tem uma relação direta com a melancolia. Justamente com a falta de perspectiva. Um problema tão grande, que, para gente, enquanto indivíduo, fica difícil lidar.
Sendo uma pessoa branca, não indígena, que está ali na linha de frente, na luta pela preservação e desse entendimento de que a gente também é natureza e que a gente é floresta. O Ailton Krenak fala isso, a perspectiva do fim do mundo nos deixa inertes. Ou não. Nem é a questão da esperança ser a última que morre, nem o desespero niilista de não fazer nada. Essa perspectiva de fim do mundo que é atual tem que fazer com que a gente se mova. Fazer com que a gente faça alguma coisa. Para mim, isso é o filme.
Márcio: Todas as nossas animações são artesanais. Todas as nossas animações envolvem um trabalho manual intenso. Como foi esse processo de animação?
Valentina: É só você calcular que são 12 frames por segundo. Então, você só fizer a multiplicação são muitos desenhos que estão no filme, fora todas as tentativas e erros. Isso que você falou é super importante. Na verdade, só temos uma animadora. A Tati foi a única animadora do filme inteiro. E principalmente, a Tati nunca tinha animado nada. O trabalho que vocês veem no filme é um trabalho de uma artista natural, e foi um projeto do filme transformar a Tati numa animadora, porque ela, claramente, desde o começo, demonstrou uma habilidade muito grande para isso.
Ela fez tudo na casa dela, num pequeno estúdio dentro da, da casa dela em Friburgo, no alto de uma montanha, no meio da natureza, cuidando de duas crianças. Realmente, é muito artesanal, e quando eu comecei a pensar no filme eu nunca tinha pensado em fazer animação. Eu venho do universo do documentário e do experimental e aí eu comecei a estudar animação por conta desse filme e a entrada da Nara foi fundamental porque aí ela trouxe essa possibilidade da pintura em vidro, que eu nunca teria conseguido chegar nisso sozinha. É um universo muito específico da animação.
E a gente escolheu essa técnica por conta, pensando meio que em forma conteúdo assim, porque a história da menina é uma história de transformação. É um rito de iniciação, existe essa mudança de forma, essa metamorfose pela qual ela passa. E a gente queria que o filme chegasse nesse ápice que ele chega no final, em que tudo é uma coisa só, uma coisa vai se transformando na outra. Isso é uma coisa que, claro, uma animação 2D permite, mas no caso da pintura em vidro, tem essa materialidade. A textura, os rastros, as falhas. Essas “falhas” que são do processo mesmo. Manter elas ali para que essa ideia de passado, presente e futuro esteja no mesmo frame. Acho que isso também é, de certa forma, forma e conteúdo no filme.
Guilherme: Quais são as principais características que você acha que ter feito animação, especificamente animação em vidro, ofereceram que, por exemplo, se você tivesse feito um longa com atores, ou se tivesse feito a instalação ou esses outros ambientes artísticos não ofereceram?
Valentina: Eu acho que tem a ver com essa combinação de textura, de cores, isso é uma coisa que eu acho que só a animação poderia fazer, essa animação que tem essa materialidade muito viva.E tem o trabalho de som também, é uma segunda construção narrativa que é feita às vezes em paralelo, mas no caso da animação é isso, você chega para fazer a edição de som, não tem absolutamente nada. É uma criação do zero. E eu sempre trabalho com o Felippe Mussel. A gente já é parceiro há alguns anos e acho que tem essa outra camada também possível da animação, que é você através do som criar todo um outro universo para complementar a imagem, mas de uma forma mais profunda porque é uma criação do zero.
Márcio: A ideia de experimentação está presente na narrativa surrealista. Você tem planos de fazer outras animações?
Valentina: Ah, eu acho que sim, eu acho que vou acabar fazendo. Eu tenho um projeto de longa de ficção, em parceria com uma artista chamada Juliana Lapa, que é uma artista maravilhosa, que é uma desenhista e o filme se chama “Cavalo”. A personagem é uma artista, meio alter ego da Ju, e a gente trabalha com animação. É uma forma de entrar dentro da cabeça dela, é animar os quadros dela, que são quadros muito profundos, muito viscerais assim. Então, já tenho esse projeto em que vai, que é uma mistura de live action com animação.