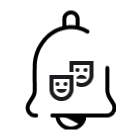O cinema extemporâneo de José Mojica Marins, o Zé do Caixão
Diretor e ator é um dos autores mais importantes e igualmente injustiçados do cinema nacional
atualizado
Compartilhar notícia

José Mojica Marins, embora vivesse à sombra de seu alter-ego Josefel Zanatas, o Zé do Caixão, é um dos autores mais importantes e igualmente injustiçados do cinema nacional. Um gênio inculto, de profundidade filosófica, teológica e social, Mojica encarna a quintessência do cinema independente brasileiro: rebelde, marginal, poético, vanguardista e insistentemente relegado ao ostracismo comercial.
Com a marcada produção mambembe de suas fitas, Mojica revolucionou o cinema nacional estética e tecnologicamente. Em 1967, já na esteira do surpreendente sucesso comercial de À Meia-Noite Levarei Sua Alma (1964), foi ele um dos pioneiros no uso do technicolor — a tecnologia de colorização dos filmes então inédita no Brasil – em Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver.
Por outro lado, Mojica usou violência e misticismo e como arma de discurso crítico ao sincretismo religioso, ganhando assim algumas tesouradas dos censores da ditadura militar. Zé do Caixão não revela apenas a humanidade radical do pensamento niilista do José Mojica, mas reuniu toda a hipocrisia da sociedade moderna, derramando brasilidade, no tensionamento de suas contradições: gozo e sofrimento conciliados sob um prisma poético e onírico que transcende o mero cinema de gênero.
A prolífica produção de Mojica conheceu a glória e o fracasso em um par de décadas, entre os anos 1960 e 1970 – concentrando verdadeiras relíquias cinematográficas como O Despertar da Besta (1969) e Finis Hominis (1970). Antes de se tornar este símbolo do cinema de terror, Mojica era só um cineasta mambembe inspirado pelo bangue-bangue. O faroeste, aliás, foi a razão de sua notoriedade, ainda em 1958, com A Sina do Aventureiro, distribuído praticamente na marra pelo próprio diretor, mas que abriria as portas do circuito comercial.
Com o passo ousado de estampar na tela do cinema cenas de sadismo, sob o manto preto, a cartola e as unhas compridas do agente funerário assassino, Mojica criava um personagem do qual jamais se desassociaria. Ele encarnou o Zé do Caixão dentro e fora das telas, embora os anos 1980 o relegasse ao ostracismo – neste momento adotara o pseudônimo J. Avelar e produzira filmes de exploitation extremos, algo do que não se orgulhava particularmente, mas assumia sem hipocrisia e falava abertamente.
Apesar do sumiço, sempre houve um culto à obra de Mojica. Internacionalmente, inclusive. Cineastas americanos de horror, Rob Zombie e Eli Roth são dois notórios fãs da obra do brasileiro. Ao reaparecer na TV Band nos anos 90 com o Cine Trash, a matinê absolutamente imprópria para as tardes da atual sociedade, Mojica completa a confusão identitária que haveria de persegui-lo até o fim: ele é o Zé do Caixão. Não mais o personagem no filme, mas o personagem social.
Desde então, Mojica fazia aparições em eventos, concedia entrevistas e fazia pontas em outros filmes no figurino de Zé do Caixão. Unhas em riste! Era 2008 quando Mojica voltaria a fazer cinema. Nos corredores do finado Festival Paulínia de Cinema, estávamos nós, jovens críticos da geração Cine Trash, aguardando ansiosamente a exibição do tão aguardado encerramento da trilogia do Zé do Caixão, A Encarnação do Demônio. Mojica competia como cineasta, mas desfilava nos trajes inconfundível do personagem – com as unhas bem mais curtas, para evitar uma artrose que avançava pelos dedos.
Encerrava aí cinematografia de Mojica, com um filme produzido com uma boa ajuda do então pupilo e hoje expressivo realizador de horror nacional, Dennison Ramalho. Fica evidente na produção um tratamento técnico e roteiro homenageoso, como forma de conferir dignidade ao anunciado retorno de Mojica, que de fato nunca ocorreria.
Receber a notícia da morte de José Mojica Marins desperta quase uma sensação de déja vù. Afinal, Josefel foi ceifado por almas penadas, desceu ao inferno e por fim desfalece praguejado sob banho de água benta. Homem e personagem não se distinguiam. E Mojica nunca deixou de ser o que sempre foi, dentro ou fora das telas: um artista. Morre o homem. Fica a obra, para atormentar eternamente a memória do cinema brasileiro.