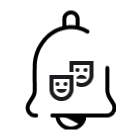Crítica: Pantera Negra usa herança africana para renovar saga Marvel
Com Chadwick Boseman no papel, filme se equilibra entre rap, rituais e disputas em Wakanda para narrar trajetória de herdeiro do trono
atualizado
Compartilhar notícia

Em Pantera Negra, o super-herói do título (Chadwick Boseman) enfrenta vários de dilemas políticos de ordem tanto ancestral e familiar quanto tribal e mundial. Antes de qualquer coisa, ele é T’Challa, jovem herdeiro do trono de Wakanda ainda de luto pelos eventos de Capitão América: Guerra Civil (2016), quando seu pai, T’Chaka (John Kani), foi morto em um atentado.
Abrir ou não as fronteiras de Wakanda, o reino isolacionista e ultra-avançado erguido a partir do vibranium, poderoso metal de origem alienígena indisponível para o resto da humanidade? Manter o oásis invisível de prosperidade no coração da África ou se revelar para o mundo em busca de cooperação e compartilhamento de saberes e tecnologias que podem salvar milhões de vidas?
Os conflitos se intensificam quando T’Challa, já estabelecido no poder e disposto a levar adiante o legado protecionista do pai, precisa encarar um concorrente ao trono.
Erik Stevens (Michael B. Jordan), conhecido no submundo militar como Killmonger, nutriu durante anos a ideia de libertar os povos negros da exploração e da condição de colonizados e instaurar uma nova ordem mundial submissa ao reino de Wakanda. Agora é o momento: desafiar o soberano em um combate justo, sem poderes mágicos, previsto na lei milenar do país.
Wakanda: terra do filme mais político da Marvel
Devidamente descolado dos Vingadores em sua primeira aventura solo, o Pantera Negra recebe um tratamento especial dentro do MCU (Universo Cinematográfico Marvel, em português).
Algumas pontas soltas cumprem o expediente contratual de ligar o longa ao passado e ao futuro (Vingadores: Guerra Infinita) da saga. No mais, este é um dos poucos produtos da franquia que pode ser visto como, de fato, um filme com vida própria.
O afrofuturismo de Wakanda combina rituais ancestrais, como conversas espirituais com antecessores e familiares que já partiram, com brinquedinhos dignos de filmes de espionagem – o novo traje acumula energia cinética a cada golpe recebido e a devolve de forma violenta ao oponente. A trilha rapper (Kendrick Lamar comanda um dream team de músicos) convive harmoniosamente com ritmos tribais.
Em termos de personalidade visual e construção de novos mundos (Wakanda, arredores, as montanhas ocupadas pelos Jabari, única tribo dissidente), o diretor Ryan Coogler parece refém de uma identidade visual um tanto padronizada e familiar já conhecida no MCU. Pelo bem da mitologia, felizmente sai de cena a autoironia de sempre do universo.
Como fez muitíssimo bem em Creed: Nascido Para Lutar (2015), Coogler encontra terreno fértil na certeira caracterização dos personagens. Sobretudo no trio feminino Nakia (Lupita Nyong’o), espiã a serviço de Wakanda e ex-namorada de T’Challa, Okoye (Danai Gurira), general e líder da Dora Milaje, a guarda real, e Shuri (Letitia Wright), a irmã adolescente do rei e nerd responsável pela hegemonia tecnológica do país.
Pantera Negra, o filme, consegue sobreviver às pressões de franquia (é o 18º do MCU) e respirar sozinho como entretenimento autêntico apesar de visualmente soar um tanto comedido. A diversidade chegou para ficar na cultura pop. Já era tempo.
Avaliação: Bom