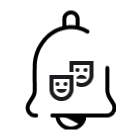Crítica: Jojo Rabbit fantasia guerra com “nazistas legais”
Controverso novo filme do diretor Taika Waititi (Thor: Ragnarok) segue garotinho cujo melhor amigo é um caricato Adolf Hitler
atualizado
Compartilhar notícia

Jojo Rabbit, comédia feel-good sobre “nazistas bonzinhos e legais”, nada de braçada em uma categoria invisível do Oscar 2020: a de filme mais controverso. Taika Waititi (Thor: Ragnarok), diretor, roteirista e intérprete de um Adolf Hitler brincalhão e pateta, consegue fazer as pessoas – não todas, mas um punhado delas – rirem e tirarem “lições positivas e inspiradoras” de uma das maiores desgraças da humanidade.
Baseado no livro Caging Skies, de Christine Leunens, o novo longa do diretor neozelandês, responsável pelos hits indies O que Fazemos nas Sombras (2014) e A Incrível Aventura de Rick Baker (2016), obviamente pretende suscitar discussões em torno dos limites do humor. Seria possível se divertir com uma narrativa construída do ponto de vista de nazistas?
Em vez de arriscar, por exemplo, adaptar a história retratando um neonazista ou um supremacista branco nos tempos atuais, Waititi se abriga nos prazeres da sátira histórica e na liberdade da fantasia infantil em busca de certa imunidade moral. É como se ele dissesse: “Veja bem. Sou ousado e até ‘inconsequente’, mas bem-intencionado”.
Para tal, o cineasta tenta criar empatia com o público mostrando uma inocente criança alemã que engrossa as fileiras da Juventude Hitlerista durante os bombardeios finais da Segunda Guerra Mundial. O truque, se ainda não ficou claro, envolve impor esse e outros questionamentos à plateia: como não torcer por um menino fofo cujo melhor amigo é um Hitler imaginário e desengonçado?
O dispositivo à la A Vida É Bela (1997), a medonha comédia poxa-até-que-dava-para-se-divertir-no-Holocausto, realiza contorcionismos olímpicos para dar algum sentido dramático à proposta. Johannes Betlzer (Roman Griffin Davis), apelidado de Jojo Coelho (Jojo Rabbit) pelos amiguinhos, achava que o nazismo era tudo na vida até esbarrar com uma garota judia, Elsa Korr (Thomasin McKenzie), escondida atrás das paredes da casa.
A dinâmica de tolerância ao outro e assimilação das diferenças encontra apoio até em nazistas adultos, portanto “imperdoáveis” em qualquer narrativa “padrão” sobre o conflito. Um deles é o capitão Klenzendorf (Sam Rockwell). Embebida em visual colorido e solar, a comédia se apoia em cartunesco humor físico – como os mecânicos cumprimentos de “heil, Hitler” – e piadas irônicas com nazistas vomitando absurdos sobre judeus, estrangeiros e eles próprios.
Mesmo que Waititi não queira, o discurso sai, sim, incontrolavelmente tortuoso. O que dizer de soldados alemães tombando em câmera lenta nas cenas finais enquanto Jojo se angustia ao ver coleguinhas hitleristas no fogo cruzado? Mais patético do que isso, quase impossível.
Ao que parece, Rosie (Scarlett Johansson), mãe de Johannes, atua secretamente contra o projeto de limpeza étnica comandado pelo führer. Protege Korr, entre outros motivos, porque a adolescente estudou com sua filha mais velha, Inge, morta após sofrer problemas de saúde. Espera, silenciosamente, qualquer dia desses, que o filho “acorde” do delírio nazista.
O filme não demora muito a sacar a comercialmente infalível cartinha do dramalhão com crianças sofrendo para promover reviravoltas mirabolantes no cotidiano de Johannes. A segunda hora do longa, por sinal, parece largar o que havia de minimamente provocativo e, vá lá, curioso da primeira para aplicar compaixão miserabilista ao arco do “nosso” nazistinha favorito.
A comédia se vende como “uma sátira contra o ódio”. Para usar um termo da moda nas redes sociais, uma “crítica social foda”. Pois bem. Em tempos de violentos discursos nacionalistas mundo afora e bizarras narrativas paralelas vingativas, como a turma do “nazismo é de esquerda”, Jojo Rabbit definitivamente incomoda. E talvez pelos motivos errados.