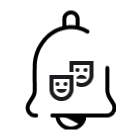Crítica: filme 1917 promete imersão na Primeira Guerra Mundial
Novo longa de Sam Mendes (Beleza Americana, 007 – Operação Skyfall) transforma experiência bélica em parque de diversões. Só faltou o 3D
atualizado
Compartilhar notícia

O filme 1917, de Sam Mendes, é um dos favoritos a empilhar estatuetas no Oscar 2020. Venceu o Globo de Ouro 2020 e segue direitinho a cartilha de longa oscarizável: baseado em fatos, jeitão de épico de guerra, zero polêmicas de bastidores (até a data de publicação desta crítica), assinatura de cineasta consagrado (Oscar por Beleza Americana) e apuro técnico capaz de “deslumbrar” cinéfilos e público geral.
Mas, em vez de disputar prêmios cinematográficos, 1917 deveria competir em torneios de esportes radicais – sobretudo operadores de câmera. Um X Games, por exemplo. Ou, quem sabe, inspirar uma nova geração de games FPS (first person shooter, tiro em primeira pessoa, em tradução literal). Sorry, Battlefield 1. PlayStation 5 já, já chega, né?
Um parque temático dos estúdios Universal sobre a Primeira Guerra Mundial também cairia bem. No cinema, faltou o 3D. Ou headset VR (realidade virtual).
Pois bem. Mendes, recentemente associado a James Bond por assinar 007 – Operação Skyfall (2012) e 007 Contra Spectre (2015), formata 1917 como uma experiência bélica imersiva, em um take só, na Primeira Guerra. Para tal, com ajuda do fotógrafo Roger Deakins e do montador Lee Smith, organizou transições sutis para uma porção de planos longos.
A câmera procura espaços escuros nos uniformes dos soldados ou usa movimentos rápidos e borrões digitais para tapear os cortes. No fim das contas, a ideia é fazer com que o público veja o filme como uma história contada em tempo real, “ao vivo”. De uma tacada. Ou em duas, já que a narrativa simula, na superfície, divisão em apenas um par de planos.
A brincadeira com esportes extremos, videogames e parques de diversões não representa tentativa (falha) de lacração de internet ou algo do tipo. É que o próprio filme assume para si essa proposta de “desafio” estético e até físico: “Venha, pagador de ingresso, entre na montanha-russa com a gente”.
De certa maneira, o drama de dois jovens soldados, vividos por Dean-Charles Chapman e George MacKay, tentando entregar uma mensagem a aliados em território inimigo se assemelha ao dos artistas por trás da narrativa. Como fazer esse plano longo soar autêntico? Poxa vida, vamos ter que refazer esse take de 15 minutos?! Uma corrida contra o tempo.
Mendes e companhia, obviamente, querem que as plateias os acompanhem nessa angústia. Que fiquem bisbilhotando para notar o truque usado para “eliminar” o corte, contem mentalmente os minutos de duração desse ou daquele plano, arrisquem dizer quando e onde vai terminar essa ou aquela cena.
Em entrevista e nos créditos finais, Mendes saca um salvo-conduto pessoal para defender que 1917 tinha que ser filmado assim: ele e a corroteirista Krysty Wilson-Cairns basearam a história em causos de guerra compartilhados pelo avô do cineasta, Alfred.
Ok, tudo bem. Mesmo assim, 1917 cai na vala comum do exibicionismo técnico e tecnológico de outros tantos filmes de um plano só. Tanto os realmente rodados assim como os que aparentam ter o take único. A memória recente traz exemplares esquecíveis como o thriller alemão Victoria (2015) ou Birdman (2015), trabalho do mexicano Alejandro G. Iñárritu que ganhou o Oscar.
1917 sacrifica qualquer fiapo de interesse dramático e humano em nome de uma suposta ousadia artística “para além do que conhecemos de cinema” ou um ingênuo resgate do “cinema de verdade”, aquele que precisa da sala e da telona para ter sentido. Nem um nem outro.