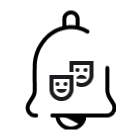Crítica: Cloverfield Paradox força a barra para expandir franquia
Lançado de surpresa na Netflix após o Super Bowl, terror espacial tenta formar antologia com filmes anteriores, mas falha do começo ao fim
atualizado
Compartilhar notícia

The Cloverfield Paradox sempre será lembrado na história do cinema por seu lançamento atrevido: de surpresa, logo após o Super Bowl 52 (belíssimo jogo, diga-se de passagem), diretamente na Netflix. Sem levar em conta a esperta jogada de marketing, trata-se de mais um filme espacial que não se cansa de cometer erros bobos do primeiro ao último minuto.
Tanto que a filiação ao universo Cloverfield – o qual nem sequer era assim chamado, até Rua Cloverfield, 10 (2016) – soa como uma segunda cartada: uma nova “caixa misteriosa” produzida por J. J. Abrams, desta vez compartilhada pela plataforma mais badalada da cultura pop. Todos querem ver, claro. E muitos devem se decepcionar.
Sob direção do jovem cineasta Julius Onah, a saga ganha ares de terror espacial. A Terra parece viver um apocalipse em curso: fontes de energia esgotam-se na mesma velocidade em que rivalidades internacionais se acirram. Uma guerra em escala global parece questão de tempo.
A única esperança da humanidade é depositada em uma estação espacial orbitando o planeta enquanto testa um gigantesco acelerador de partículas. Com uma tripulação de cientistas que inclui um brasileiro de nome bizarro (Monk Acosta, vivido por John Ortiz), a missão pretende encontrar uma maneira de fabricar energia infinita e, assim, dissolver nosso medo coletivo do fim do mundo.
Fadiga de franquia chega à Netflix
Nada disso soaria tão genérico se o filme não escolhesse sempre os caminhos mais preguiçosos. O drama da principal tripulante, Hamilton (Gugu Mbatha-Raw), é basicamente o mesmo da Sandra Bullock de Gravidade (2013): a perda dos filhos. Kiel (David Oyelowo), apesar de comandante, só aparece em convenientes momentos de tomada de decisão.
Os outros personagens são como variações de cartolina de figuras que já vimos em inúmeros suspenses espaciais: um time de astronautas com cientista asiática cerebral (Ziyi Zhang), britânico engraçadinho (Chris O’Dowd) e até a batida rusga europeia entre um alemão (Daniel Brühl) e um russo (Aksel Hennie).
Com o perdão do trocadilho, o grande paradoxo do novo Cloverfield é escancarar o quanto a Netflix – antes alternativa supostamente viável à rotina fordista de remakes, continuações e franquias feitos em Hollywood – tem se aproximado do modelo gasto, previsível e oneroso de produzir filmes destinados a grandes plateias.
Bright chegou outro dia à plataforma, querendo se tornar um meio-termo entre filme policial e fantasia. Não por acaso, com Will Smith, astro de MIB: Homens de Preto, emprestando rosto de fama universal à trama.
Agora, Cloverfield Paradox tenta expandir o microcosmo poderoso de Cloverfield: Monstro (2008) e a paranoia apocalíptica vibrante de Rua Cloverfield, 10 (2016) – também lançados com estratégias curiosas – para um universo de histórias compartilhadas sobre realidades alternativas com alguma costura metafísica.
No terceiro episódio desta série cinematográfica que tem Abrams como showrunner, fica evidente: a ambição de anabolizar o “Cloververso” não vem acompanhada de boas ideias.
Crítica: Ruim