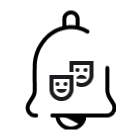Crítica: An American Saga é faroste conservador de Kevin Costner
An American Saga, novo faroeste de Kevin Costner, foi exibido durante o Festival de Cannes 2024
atualizado
Compartilhar notícia

Cannes (França) – Ao lado deste Horizon: An American Saga de Kevin Costner, os faroestes dirigidos por Clint Eastwood parecem revisionistas e progressistas. A brincadeira introdutória é justificável pois costumam acusar Eastwood de ser reacionário, quando nenhum diretor norte-americano questionou verticalmente o gênero quanto ele, em longas como Josey Wales, O Fora-da-Lei, O Cavaleiro Solitário e Os Imperdoáveis. Por isso, em comparação, o novo longa de Costner soa como um desejo romântico republicano de retornar aos valores da sociedade daquela época prévia à Guerra Civil, em meados do século 19, nem que para isto precise tratorar os avanços do western.
Horizon é A Conquista do Oeste, conforme Kevin Costner. O diretor é abrangente ao invés de específico, mais preocupado em como os personagens são definidos e desenvolvidos em razão daquela época e região fronteiriça ao território Apache, do que em estabelecer uma trama e um protagonismo convencionais. A proposta narrativa é compreensível ao abordar o desbravamento em direção à cidade de Horizon, um elísio ou éden sonhado pelos colonizadores. Apenas faltou combinar com os povos indígenas – os titulares daquela região –, cuja juventude responde com violência e brutalidade à formação de assentamentos na região e desencadeia uma parte dos conflitos estabelecidos no roteiro.
A visão de Costner já é ditada na sequência introdutória, o que deixa um sabor bem amargo para o restante da narrativa. Pai e filho loteiam um terreno, fincam estacas, nivelam e medem a área aos olhos vigilantes de garotos indígenas que creem que estejam jogando um jogo dos povos brancos. Até chegarem indígenas mais velhos, armados e com o olhar maniqueísta de inimizade e desagravo. O resultado possível é o massacre da família, com um plano forte que detalha o cadáver do garoto diante do olhar compassivo de um religioso (a cruz permite esta conclusão).
Logo depois, a elaborada sequência em que os indígenas invadem a festividade do assentamento e matam, sem piedade, homens, mulheres e crianças indistintamente, enquanto estes tentam, heroicamente, sobreviver a esta agressão injustificada reafirma a forma com que Kevin Costner enxerga os nativos – ao menos dentro do que a narrativa exprime para nós.
Na época em que a representatividade de povos originários é o tema de discussão (Lily Gladstone, por exemplo, acabou de ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz) e depois de muitos clássicos do século passado terem sido questionados pelo retrato estereotipado dos nativos, é irresponsável, para dizer o mínimo, como Kevin Costner retoma o debate.
O roteiro assinado por Costner e pelo estreante Jon Baird acautela-se como pode: o personagem de Sam Worthington critica os colonos por não respeitarem a região do povo Apache e o xamã indígena repreende o líder que atacou o acampamento e até profetiza a consequência do que realizou. Não me parece o bastante dentro de uma narrativa sobre causa, acaso, consequência, justiça e vingança, que porcamente desenvolve os personagens – não apenas os indígenas, que fique claro, como ainda os demais, apoiados em caricaturas que os definem com maior facilidade.
Parece que Costner realizou o sonho dos conservadores republicanos americanos, com um faroeste clássico na execução, embora anacrônico nos valores debatidos. É a centralidade na família (ou “famílias” que os personagens formam no caminho), o primado da arma, a decência e respeitabilidade dos soldados do exército sulista diante de um território hostil em que poderiam reagir com brutalidade.
Até é possível admirar a mão firme de Kevin Costner no ataque ao assentamento, no acúmulo e liberação de tensão no interior de uma cabana ou no plano refletido que anuncia a chegada do personagem que interpreta. São instantes que exploram o que o público espera daquele período em que um forasteiro poderia tirar a vida de outro diante de olhares curiosos, sem que isso o levasse à Justiça.
Mas, isso tudo, são gotas de chuva no deserto de aridez de uma trama frouxa, na qual acompanhamos cerca de uma dúzia de personagens sem que haja uma estrutura narrativa que conserve uma aparência que seja de integridade.
Apesar da duração de 3 horas, a sensação é de uma absoluta incompletude no fim das contas. E mesmo que o dedo de vocês esteja coçando para me dizer “é apenas a parte 1”, filmes divididos – de uns tempos para cá, estão cada vez mais frequentes – podem oferecer a sensação de desfecho, ao invés de terminar a narrativa com um trailer para o próximo capítulo. Lamentável, Kevin.