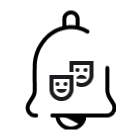Crítica: A Queda do Céu foge da “nota de repúdio” ao mostrar Yanomamis
A Queda do Céu, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro, está em exibição no 77º Festival de Cannes. Obra abora povo Yanomami
atualizado
Compartilhar notícia

Cannes (França) – O Festival de Cannes enxerga com carinho o cinema brasileiro indígena. A explicação pode ser a tradição etnográfica francesa de Jean Rouch ou até a preocupação contemporânea do país europeu com a causa ambiental, que resvala inevitavelmente na proteção dos povos originários e de seus territórios. São os casos de Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos (Prêmio do Júri da Mostra Um Certo Olhar em 2018) e Flor de Buriti (Prêmio de Elenco da Mostra Um Certo Olhar em 2023), ambos assinados pela dupla João Salaviza e Renée Nader Messora. Agora, é a vez de A Queda do Céu, da também dupla Eryk Rocha, filho de Glauber Rocha, e Gabriela Carneiro.
O filme é adaptado a partir do livro homônimo, publicado em 2010 e escrito pelo antropólogo francês Bruce Albert ao lado do xamã e líder Yanomami Davi Kopenawa, que enfatiza a crise de sua comunidade especialmente com os garimpeiros da região, ou, como Davi denomina, “o povo da mercadoria”. Eryk e Gabriela evitam concretizar a figura da ameaça, o que exigiria nomear os responsáveis pela crise humanitária Yanomami (empresários, figuras políticas, fazendeiros etc.).
Contudo, é até improvável não por um rosto em face à memória atual e coletiva dos crimes praticados contra este povo em favor da prática do garimpo ilegal. Seja como for, a direção aproxima-se dos invasores e exploradores pelas mensagens de rádio enviadas a Kopenawa por comunidades vizinhas, acusando os crimes ambientais, cuja consequência é a poluição do leito dos rios, com impacto imediato na saúde Yanomami, sobretudo a de crianças.
A ideia de invasor parece-me pertinente, já que o filme tem início com uma imagem que me remeteu à do clássico Lawrence da Arábia, um plano longo que acompanha a chegada de um personagem conduzido por uma miragem. Agora, a miragem acompanha a peregrinação da comunidade, negociando com o espectador a encenação que norteará a narrativa, numa sequência que Eryk e Gabriela repetirão em outros contextos. A encenação compreende uma câmera posicionada de forma objetiva, que assiste aos indígenas e às suas tradições à distância, obediente à tradição etnográfica de Jean Rouch, e ainda outra filmadora, que, se não é subjetiva, está próxima o bastante dos membros da comunidade para que os indígenas assumam uma posição de co-criação.
É uma abordagem que arma e desarma o intérprete da obra, e já vou explicar o motivo, mas não é a culpa da dupla de diretores. É maior do que isto. Um olhar em direção ao outro, seja este outro quem for, tende a estar impregnado de pré-julgamentos. Há todo o fascínio com a cultura e as tradições que deságuam no território do “exótico”, do “selvagem”. A aposição de penas brancas sobre a cabeça dos homens, a preparação descontraída do purê de banana e o rito fúnebre do Reahu são exemplos de instantes que o espectador compartilha mais em nível da imagem do que de humanidade, porque na condição de outros. Um distanciamento sobre o qual a direção não avança, mas até reforça, pois é menos sobre aprender com tais tradições, e mais sobre a capacidade da câmera em registrá-las e compartilhá-las.
O melhor momento para ilustrar o que estou dizendo é a crise criada entre os diretores e um ancião. Este personagem, calejado pela construção, durante os anos 1970, de uma estrada no seio da Amazônia e que teve como consequência o extermínio de comunidades Yanomami pelas doenças trazidas pelos construtores, é quem questiona sobre um cinema etnográfico.
Depois da autorização para ser filmado, o ancião reflete sobre qual é o objetivo de diretores brancos e se serão aliados, ou não. E é uma reflexão pertinente. Sem o cinema, talvez não houvesse a ciência mais ampla e nem o convite à empatia operado naqueles filmes citados no primeiro parágrafo, ao mesmo tempo em que é uma promoção dos artistas a partir do dia a dia dos povos indígenas. É uma linha tênue, ainda mais em uma obra que discute sobre a exploração dos recursos naturais do meio ambiente, que acaba convidando à reflexão sobre a exploração dos recursos imateriais (a imagem) daquela comunidade.
Mas A Queda do Céu não é um filme “nota de repúdio”, ainda bem. Há o desejo autêntico de ação e transformação pela denúncia e conscientização audiovisual, dentro de uma estética característica do cinema indígena: um convite à contemplação associado ao ritmo manso e retorno às raízes, até literais, na encosta que simboliza a comunidade.
A estética intelectual e fotogênica associa a comunidade à natureza através da sobreposição da imagem do rio na figura do xamã e anuncia a incerteza do futuro no enquadramento em contraluz da criança (o símbolo da geração seguinte dos Yanomami).
Uma incerteza a que nos é dado o conhecimento através do cinema, embora apenas possa ser derrotada por políticas públicas.