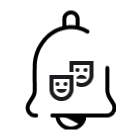Cannes 2019: o Metrópoles avaliou 33 filmes; leia as críticas
Premiação foi anunciada na tarde deste sábado (25/5). Filme brasileiro “Bacurau” recebeu prêmio.
atualizado
Compartilhar notícia

O Brasil marcou presença forte este ano no Festival de Cannes. Com 3 filmes concorrendo em 3 mostras diferentes, o país foi bem recepcionado. “Bacurau”, que concorria à Palma de Ouro venceu o Prêmio do Júri. “A Vida Invisível de Eurídice Gusmão” ganhou melhor filme da mostra Un Certain Regard e “Sem Seu Sangue” participou da mostra Quinzaine des Réalisateurs.
Como de costume, o Metropoles viu 33 filmes, classificando-os da seguinte maneira: 5 estrelas (2 filmes), 4 estrelas (8 filmes), 3 estrelas (7 filmes), 2 estrelas (13 filmes) e 1 estrela (3 filmes).
Além disso, entrevistamos elencos, diretores e equipes dos 3 filmes brasileiros que passearam pela Croisette.
Confira nossa cobertura:
Excelente – 5 estrelas

“Dolor y Gloria”, de Pedro Almodóvar
Flutuar, solto dentro de uma piscina, evoca a tranquilidade de um útero materno cinema. É o sossego que personagens atribulados buscam para refugiarem-se da dor. No caso de Salvador Mallo (Antonio Banderas), fechar os olhos e afundar-se na água faz parte do processo de reabilitação física para a recuperação de uma cirurgia na espinha. Mallo é um diretor espanhol renomado, preso num limbo aonde a inspiração para um próximo projeto lhe escapou, em uma jornada que mistura nostalgia de seu passado com lembranças do que viveu com sua mãe. O espaço uterino em que o diretor espanhol Pedro Almodóvar medita é vermelho, colorido, e expressivo.
“Dolor y Gloria”, é, afinal, seu melhor filme desde “Volver”, apesar de ser todo uma exploração superficialmente metafórica de sua própria vida e seu trabalho. Até a caracterização de Banderas como Mallo é óbvia, adotando o mesmo estilo capilar, e único, do Almodóvar real. Por outro lado, a trama rouba um pouquinho de Ingmar Bergman e seus “Morangos Silvestres”.

“A Vida Invisível de Eurídice Gusmão,” de Karim Aïnouz
Eurídice (Carol Duarte) é insegura e tímida enquanto Guida (Júlia Stockler) tem o sopro de energia e entusiasmo dado aos boêmios. Inseparáveis enquanto moram juntas, com seus pais, tem um relacionamento de amor e completa intimidade. Faz sentido, pois ambas anseiam por explorar o mundo (no caso de Eurídice, tocar piano no conservatório de Viena), mas são restringidas de qualquer escolha pessoal pelo pai conservador (Antonio Fonseca). Em uma noite em família particularmente enfadonha, Eurídice ajuda Guida a fugir pela janela e ir dançar na cidade. Na volta, ela deleita a irmã com histórias de transgressões luxuriosas.
O destino lhes reserva algo tortuoso, porém, como indicado pela separação que as duas experimentam logo na primeira cena do filme, em uma mata carioca: Guida se apaixonou por um marinheiro grego e decidiu que fugirá com ele a bordo de um navio. Eurídice, como sempre, não consegue conter o plano da irmã, mas, talvez pela primeira vez, seu rosto traz um verdadeiro pesar, por enxergar ali um rompimento forte entre as duas, mesmo que geográfico. Esta separação será trágica para ambas, pelo resto de suas vidas.
Ótimo – 4 estrelas

“Era Uma Vez em Hollywood”, de Quentin Tarantino
O ator de TV Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e seu dublê/assistente/melhor amigo, Cliff Booth (Brad Pitt), vivem os bons e maus bocados de uma existência digna de Hollywood. O ano é 1969 e o perigo paira sobre o ar, na presença de Sharon Tate (Margot Robbie) e da família Manson. O novo filme do diretor americano Quentin Tarantino insere estes personagens em seu sonho nostálgico de uma vida longínqua.
Este é, afinal, um sonho de Tarantino, com muitos pés, música, nomes, referências, cenários e gravações de western, além velhos amigos fazendo pequenos papéis. Os mais familiarizados com o que aconteceu no verão seguinte perceberão facilmente quem é todo mundo. Na era do podcast, por que não entrar em You Must Remember Manson? Duas das sequências centrais (uma filmagem de TV no oeste e outra no Rancho Spahn, lar do famoso culto) são os melhores momentos do filme.

“Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles
Algo ameaçador paira sobre o vilarejo de Bacurau, no oeste de Pernambuco. Mas talvez ninguém se importe, afinal, num futuro próximo, ela acaba de ser literalmente apagada do mapa. Quando o novo filme de Kleber Mendonça Filho, desta vez codirigido por Juliano Dornelles, começa, Teresa (Bárbara Colen) acaba de chegar no vilarejo para o enterro de sua avó, a matriarca da vila, Carmelita.
O vilarejo é o retrato de um Brasil que sobrevive por esforço próprio, dependendo da força e da união do povo quando ninguém mais dá assistência. Com misteriosas mortes nos arredores da vila e a perda de sinal dos aparelhos celulares e de comunicação, a cidade necessita cada vez mais de Lunga (Silvero Pereira), cangaceiro moderno que está à espreita e que é buscado pela polícia.

“Sorry We Missed You”, de Ken Loach
A tradicional família Turner, um marido, uma esposa, um filho adolescente e uma filha de dez anos, está prestes a tentar um caminho mais ambicioso na vida quando Ricky (Kris Hitchen) percebe que, no caminho que as coisas estão indo, eles nunca serão capazes de comprar a casa própria, condenados a pagar aluguel pelo resto de suas vidas. No mais novo filme de Ken Loach, não é um spoiler dizer que suas esperanças estão prestes a ser miseravelmente esmagadas pelo capitalismo.
Loach está trabalhando em três frentes aqui. A primeira é a luta dos pais para ganhar mais dinheiro e reduzir suas dívidas, especialmente Ricky. Ele é constantemente pressionado para ssuir mais rotas, tentar ganhar mais dinheiro e é punido por atrasar entregas praticamente impossíveis. O esquema de franquias que ele entrou acaba parecendo cada vez mais uma fraude, extraindo mais e mais dinheiro dele quando deveria estar recompensando seus esforços.

“Les Misérables”, de Ladj Ly
O filme começa no meio do êxtase nacional: uma celebração, na avenida Champs-Élysées, pela conquista da Copa do Mundo de 2018 pela time francês. No mar de gente que preenche todo o espaço visível de uma das mais largas ruas de Paris, não existe diferença de raça, religião ou classe social. É tudo pura felicidade e todos tem acesso à bandeira nacional. Passada a festa, as tensões sociais continuam. Issa (Issa Perica) é um jovem muçulmano que, ao correr da trama, se envolverá, juntamente com seus amigos, em uma confusão gigantesca com três policiais brancos, após um episódio de brutalidade policial ser gravado. O caos que decorre da busca destes homens pelo drive envolve todo tipo de personagem, nenhum deles mocinhos ou bandidos, presos a um sistema de papéis sociais que pode explodir a qualquer momento.
Ly consegue formar um caldeirão de tensões e violência cheio de possibilidades narrativas–esse é o maior trunfo de seu longa-metragem. O filme une a estética do cinema de ação de maneira coerente com seu discurso sobre conflito social. Conseguirá atrair espectadores dos dois lados do espectro “entretenimento vs. comentário artístico” da mesma maneira.

“Portrait de la Jeune Fille en Feu”, de Céline Sciamma
Embora homens nem sequer apareçam no novo filme da diretora francesa Céline Sciamma, são as regras que eles criaram e impuseram as forças ocultas que limitam as vidas não apenas de Marianne (Noémie Merlant) e Héloïse (Adèle Haenel), personagens principais, mas também de todas as outras coadjuvantes. O filme se passa no século 18–na verdade, é quase todo um flashback, a partir do momento que Marianne, professora de pintura encontra, em plena aula, um quadro antigo de sua autoria.
Marianne e Héloïse se deslocam constantemente, não só para que Sciamma e seu fotógrafo comporem quadros belíssimos, mas também para contrastar a quietude do cenário interno com a barulhenta natureza, composta do vento intenso, da água gelada e do fogo devorador, todos estes elementos simbólicos do que elas sentem por dentro. (Os figurinos também são bem aproveitados.) Os dias que vivem juntas são um idílio, e a evocação de um Éden simbólico, para o gozo de uma liberdade particular, é evidente.

“The Lighthouse”, de Robert Eggers
Desde que o hotel Overlook apareceu na tela, em “O Iluminado”, nenhuma outra estrutura remota e isolada pareceu tão sinistra e obviamente perigosa quanto o simples farol, gasto pelo tempo na costa dos EUA, que fica no topo de uma ilha rochosa no novo filme de Robert Eggers. Quando Thomas (Willem Dafoe) e Ephraim (Robert Pattinson) chegam, dentro de uma espessa neblina, ninguém está por perto. Com um período de quatro semanas de trabalho pela frente, a dupla, típica de roteiros de filmes, está prestes a descobrir uma tempestade perfeita de pavor existencial.
Thomas é o velho, experiente, lobo do mar. Marinheiro a vida toda, ele foi ferido na perna e proibido de velejar, mas permanece fiel às águas, procurando sempre trabalho o mais próximo possível dela. Quanto ao seu passado, basta uma linha: “Treze Natais no mar e meus pequenos em casa. Ela nunca me perdoou”. Ephraim é o novo recruta, em seu primeiro período como wickie (guardião do farol), com seu manual memorizado e a melhor das intenções, disposto a trabalhar duro e ganhar dinheiro suficiente para um dia se retirar para o campo. Tão evidente quanto os arquétipos da dupla é a noção tácita de que cada um tem uma parcela de segredos que preferem manter ocultos.

“Diego Maradona”, de Asif Kapadia
Quando Maradona foi contratado pelo SSC Napoli, ele já vinha de uma vitória na Copa do Mundo de 1986 (que incluiu o famoso gol da mano de Díos), porém de temporadas fraquíssimas no Barcelona. O mundo do futebol já o contava como um “has-been”, alguém que não viveria o potencial que prometia quando novo. Talvez fosse apenas esta relativa mediocridade em um time gigante que tornou possível sua ida ao Napoli. Na conferência de imprensa em que os dirigentes anunciam sua contratação, a primeira pergunta de um jornalista é se o preço alto do jogador envolveu financiamento pelo crime organizado.
Reverenciado como um Deus, literalmente, Maradona chegou ao topo do mundo em Nápoles.

“Le Daim”, de Quentin Dupieux
O que não é possível quando se está decididamente apaixonado? Quando Georges (Jean Dujardin) encontra uma jaqueta de pelo de cervo, feita na Itália, ele gasta uma pequena fortuna para comprá-la. Completamente apaixonado pelo couro e pelas franjas, ele decide virar um cineasta com uma câmera de filmagem que ganha de presente e abandona sua vida passada.
O cinema é cheio de personagens mergulhando em uma crise de sanidade enquanto se perdem em agonia. “Le Daim” segue a mesma trajetória, para um final tão absurdo quanto apropriado, mas seu tom é completamente inovador. Assistir George tendo uma conversa com seu casaco, em que ele mesmo interpreta a voz da peça de roupa, é hilário, e de propósito.
Bom – 3 estrelas

“Il Traditore”, de Marco Bellocchio
Os rumos da política brasileira giraram como um redemoinho de bons ventos cinematográficos para “Il Traditore”, co-produção italiana e brasileira (via a produtora Gullane), que concorre à Palma de Ouro no Festival de Cannes. Se trata de uma versão dramática dos acontecimentos reais que engoliram Tommaso Buscetta nas décadas de 80 e 90. Ele foi o mafioso mais graúdo da época a se tornar delator, naquela operação histórica em que investigadores e juízes brasileiros se inspiraram para criar a Lava-Jato.
Veterano, o diretor Marco Bellocchio não apresenta seu filme para convencer o espectador a torcer pela Máfia, ou mesmo pelo delator. Ninguém sabe se o arrependimento de Buscetta foi real ou oportunista. Se trata de um herói da justiça ou de um traidor? O fato de tratar-se de uma história real permite que Bellocchio não tome partido–a alegação de que esta meramente retratando um período turbulento na história de seu país é o suficiente.

“A Hidden Life”, de Terrence Malick
Terrence Malick, vencedor da Palma de Ouro com “A Árvore da Vida” em 2011, mescla questões filosóficas e cósmicas em suas histórias sobre o Homem e a Natureza. Em seu novo filme, ele contempla a futilidade de um ato pequeno, feito por um homem que não está destinado a fazer um grande impacto na História (assim, com H maiúsculo).
A história “pequena” é apresentada com ares de grandiosidade, por Malick, com uma duração épica de 3 horas, decisão desnecessária para a trama. Em seus primeiros filmes, “Badlands” e “Days of Heaven”, Malick fazia tudo o que queria em menos de uma hora e meia. Continuam filmes grandiosos, também filosóficos e ruminativos, e até melhores, do que a nova safra do diretor. É esta teimosia que enfraquece este filme e que, infelizmente, fará com que ele seja pouco visto.

“It Must Be Heaven”, de Elia Suleiman
Existe a possibilidade de usar a comédia para explorar um tema tão tenso quanto o estado existencial do povo palestino? Sim, se formos conferir o filme mais recente do diretor Elia Suleiman. Seu personagem é uma figura metafísica: homem sem terra, nômade sem lar, presente em todas as cenas do filme, é praticamente mudo. Fala apenas duas ou três palavras ao todo. Entediado com a rotina em seu território habitual, ele inicia uma peregrinação urbana pelo mundo, passando por Paris e Nova Iorque.
O formato de filmes de esquete de comédia está ficando mais apresentável no Brasil junto com o movimento de comédia stand-up que cresce dia pós dia. Em uma cena marcante, quando Suleiman conversa com um produtor boçal sobre seu filme, este reclama que a ideia não suficientemente palestina. É uma crítica à demanda internacional por filmes fora do sistema hollywoodianos: que se estes não retratarem sofrimento ou dificuldade, não servem.

“Sem Seu Sangue”, de Alice Furtado
Antes de Artur, Luiza era uma adolescente exageradamente apática, sem qualquer coisa que lhe estimulasse a viver. Em contraponto, Artur sofre do oposto. Sua vontade de extrapolar é ocasionada não por um certo joie de vivre, mas por rebeldia. Portador de hemofilia, doença que impede o coágulo do sangue e assim facilita sangramentos fatais, ele corre perene risco de vida, pois se dedica a atividades como futebol, skate e motociclismo. Luiza rapidamente se vê apaixonada, e os dois começam a namorar. Só que nem a força de um amor intenso e íntimo é capaz de prevenir o óbvio. Em um acidente de moto, logo no primeiro ato do filme, Artur morre. O foco da história, de fato, é o processo emocional de Sílvia, e os contornos macabros que sua recusa em aceitar a morte como força de separação reúne.
“Sem Seu Sangue” se porta com uma mão segura, aonde atmosfera e imagem são mais importantes que trama. Furtado, há de se dizer, tem larga experiência com o cinema curta-metragem, já apresentando seu “Duelo Antes da Noite” em Cannes há oito anos. Esta mão segura de Furtado, porém, pode agir como uma vantagem ou um empecilho para o desenrolar do filme nos cinemas. Se por um lado é evidente que ela fez o filme que queria, por outro talvez ele não apele ao grande público.

“Lux Æterna”, de Gaspar Noé
Duas musas do cinema francês, Beatrice Dalle e Charlotte Gainsbourg, interpretam versões de si mesmas que estão participando de uma filmagem em um casarão. O clima é caótico, e Noé aproveita todos os clichês de confusões em sets de filmagens para popular sua história: a diretora cheia de dúvidas, a musa artística tentando entrar em seu personagem, um pseudo-roteirista tentando vender sua ideia boba de roteiro, as crises de vestuário e figurino, intrigas amorosas…
Ouso comparar a obra de Noé com outro “enfant terrible” francês, Jean-Luc Godard. São sensibilidades completamente diferentes, separadas por abismos em gostos, em política, em gerações, mas são interesses similares em explorar a possibilidade cinematográfica. Não é possível saber, ainda, aonde este comercial de 50 minutos de duração passará (o circuito comercial em salas não parece uma opção), mas Noé o fez somente para o cinema, aonde a experiência sensorial funciona. Este sim, é um pedaço de arte que não funciona na tela de um celular.

“Zombi Child”, de Bertrand Bonello
O Haiti é o berço do mito zumbi. Além disso, como uma ex-colônia francesa, permite que este filme ainda carregue todo este subtexto de exploração comercial e societária. Claro que as sinas do passado são visitadas sobre jovens que sequer estavam vivos naquela época. O filme oscila entre duas épocas. Na primeira, 1962, estamos no Haiti, e Bonello adapta a história “real” de Clairvius Narcisse (Bijou Mackenson), que foi “zumbificado” e condenado a trabalhar em plantações de cana, dia e noite, sem vontades ou livre-arbítrio. A outra é em 2019, na França, onde a jovem estudante Fanny (Louise Labèque) oscila entre o tédio e uma obsessão romântica.
A trilha sonora assombrosa e a iluminação dramática, criada por seu fotógrafo são pontos fortes. A atenção aos detalhes da cenografia e da direção de arte já são marcas registradas de Bonello.

“Hatsukoi”, de Takashi Miike
Um dos personagens principais desta comédia romântica é Leo (Masataka Kubota), um jovem boxeador com um diagnóstico de tumor cerebral. Yuri, (Sakurako Kanishi) foi vendida a um cafetão pelo próprio pai e se vê viciada em heroína. Ambos tem cara de adolescentes, e se conhecem quando Leo ajuda Yuri a fugir de gângsters da yakuza japonesa, chefiados por Kase (Shota Sometani), que também parece ter acabado de se formar do segundo grau.
Kase está tentando executar um plano perfeito: roubar um carregamento de heroína de seus próprios chefes e entregá-lo a um grupo de policiais corruptos que, por sua vez, culparão uma gangue Chinesa pelo roubo, livrando Kase de qualquer suspeita. O plano envolve Yuri, que não sabe de nada, e, obviamente, tudo dá errado. Entre tiroteios e decapitações, ainda conhecemos um fantasma de cuecas, uma assassina vingativa e um bandido de um braço só, que executa suas vítimas com uma espingarda.
Regular – 2 estrelas

“The Dead Don’t Die”, de Jim Jarmusch
Aqueles familiarizados com o trabalho do diretor americano Jim Jarmusch sabem o que tem pela frente com seu novo filme, “The Dead Don’t Die”, crônica de uma pequena cidade que lentamente se vê invadida por zumbis. Sua aparente incursão em um novo gênero também não deve surpreender, já que ele Jarmusch deixou sua marca em filmes de assassinos e de vampiros. O que é verdadeiramente surpreendente sobre este novo filme é o quão típico ficou, pelo menos para ele. O público que é fã de filmes de zumbis provavelmente deixará o cinema frustrado, já que Jarmusch não mudou seu estilo para entrar no mundo dos zumbis. Em vez disso, ele transformou os zumbis para se adequarem ao seu próprio estilo.
Cliff Robertson (Bill Murray) é o xerife de Centerville, EUA, auxiliado por Ronnie Peterson (Adam Driver) e Mindy Morrison (Chloë Sevigny), seus adjuntos. Nada acontece na cidade além do sumiço ocasional de gado, geralmente na fazenda de Farmer Miller (Steve Buscemi). Um dia, em meio a notícias de que a escavação por petróleo nos pólos da Terra está alterando a rotação do planeta, efeitos estranhos começam a acontecer: aparelhos eletrônicos começam a pifar, o sol não se põe (pelo menos às 20h) e zumbis começam a sair do chão no cemitério local. Cabe ao departamento de polícia lidar com o surto.

“La Gomera”, de Corneliu Porumboiu
Entre África e Europa, no oceano Atlântico em vez do Mediterrâneo, estão as Ilhas Canárias, território espanhol. E em uma destas ilhas existe uma língua secreta que, em vez de palavras, usa assobios como forma de comunicação. É lá que vai parar Cristi (Vlad Ivanov) um policial que se envolveu com uma gangue envolvida em lavagem de dinheiro. O fato é que ele estava investigando esta mesma gangue, só que, com a ajuda de um pouco de seu instinto por corrupção, Cristi espera ganhar um bom bocado jogando contra os criminosos e a polícia.
É uma trama cheia de curvas e confusões, contada por meio de um excelente esquema de edição e fotografia. Cada timeline tem seu próprio look, e as imagens remontam ao cinema dos anos 60, quando uma estética pop foi apropriada para filmes “cool” sobre a criminalidade. Só que nada é tão sério assim em “La Gomera”, pelo menos na visão do diretor. Os atores, claro, interpretam a premissa absurda como uma trama de vida e morte. O diretor, por sua vez, quer fazer o público rir.

“Atlantique”, de Mati Diop
A jovem Ada (Mame Bineta Sane) está de casamento arranjado com o playboy Omar (Babacar Sylla), mas ela está em um relacionamento escondido com o ajudante de obras Souleiman (Ibrahima Traoré). Completamente apaixonada, ela nem imagina que Souleiman está de partida para a Espanha, de maneira clandestina, em busca de uma vida melhor. Ele e seus colegas estão erguendo um arranha-céus moderníssimo em Dakar, mas não recebem há 3 meses por pilantragem da empresa de construção.
O drama de migrantes e refugiados africanos que partem para a Europa em busca de uma chance de vida melhor é pleno de notícias e conteúdo destes no mar, em campos de refugiados e mesmo no novo lar. O que a diretora Mati Diop busca explorar em seu filme de estreia é o que fica em suas terras natais.

“Frankie”, de Ira Sachs
Frankie (Isabelle Huppert), personagem principal do novo filme do diretor Ira Sachs, já aparece em cena resolvida. Nadando na piscina de um hotel paradisíaco da cidade de Sintra, em Portugal, ela já está em paz consigo mesma, conformada com o fato de que está prestes a morrer de uma doença terminal. Estrela francesa de cinema (como a própria Huppert), ela convocou a família e alguns agregados à Sintra para o anúncio formal e também para tentar resolver as questões que ainda persistem em deixarem suas vidas inquietas.
O tom do filme é brincalhão, porém com toques de melancolia e a profundidade mais leve possível, se isso fizer sentido. Quase como uma comédia de costumes, à moda antiga de Hollywood, em que Spencer Tracy e Katharine Hepburn se manipulavam, atraindo-se e repelindo-se enquanto sorriam. Os diálogos são precisos, mas não necessariamente envolventes, com uma ou duas exceções. As questões existenciais apresentadas são grandes, mas suas explorações pequenas, sempre pelo prisma do que estas pessoas comuns estão sofrendo.

“Mektoub, My Love: Intermezzo”, de Abdellatif Kechiche
Amin (Shaïn Boumedine), é o menino galã de quem todas estão a fim. Ophélie (Ophélie Bau) é sua ex-namorada, que agora tem um caso meio escondido com Tony (Salim Kechiouche) enquanto seu noivo está em uma campanha do exército em algum outro país. Ela é a líder indomável do grupo, mas um outro segredo que esconde está prestes a fazê-la perder sua juventude.
Esta é a metáfora que poderia explicar o hedonismo explicitado no filme. A conversão de adolescência para a vida adulta é uma temática rica, mas o fato da palavra “intermezzo” estar no título do filme já indica que ele não é uma histórica completa. A narrativa não satisfaz. É o filme mais arthouse da mostra competitiva até agora, uma experimentação narrativa e imagética de obsessão pelo corpo feminino e seus usos adolescentes. Na ausência de histórias, e com o drama condensado em pinceladas mínimas, somados à duração exagerada, o filme será perdido na história cinematográfica, renegado pelo seu mau gosto masculino.

“Nan Fang Che Zhan de Ju Hui”, de Diao Yinan
Em uma estação ferroviária distante, obscura, e punida por uma chuva forte e constante, um homem misterioso, Zhou Zenong (Hu Ge), espera algo. Uma mulher jovem e bonita se aproxima dele e pede que acenda seu cigarro. Um não sabe a que ponto deve confiar no outro. Zhou está foragido por ter matado um policial e Liu Aiai (Gwei Lun-Mei) está lá a mando de gângsters. Existe uma recompensa pela cabeça de Zhou, e todos estão atrás dele. Os policiais preferem matá-lo a prendê-lo, e os gangsters buscam um pouco de sossego após entregarem o homem para a polícia, provavelmente já morto. Zhou quer se certificar de que, caso seja pego, a recompensa vá à sua esposa (Wan Qian). Em vez desta, é Liu quem apareceu.
A ambição do filme busca unir as tramas que Jean-Pierre Melville criava ao unir o gangsterismo norte-americano com uma sensibilidade estrangeira e a inventividade neon e luminosa de “Blade Runner”. O que o diretor Diao Yinan não consegue fazer, porém, é penetrar o estoicismo da caracterização de seus personagens pelos atores. Com tanto potencial, é difícil investir neles. Liu tem o maior potencial, esta mulher que ninguém sabe o que quer, se ela entregará Zhou para a polícia, para os gangsters, ou mesmo se sonha em fugir com ele. As atrizes e os atores do cinema noir clássico criam personagens irresistíveis, e não monótonos como estes.

“Matthias & Maxime”, de Xavier Dolan
Max (Dolan) está prestes à partir do Canadá rumo à Australia, e o clima entre ele e sua turma de melhores amigos é de doce saudade. A sintonia entre todos é perfeita, e a diversão constante. Até que ele e Matthias (Gabriel D’Almeida Freitas) são pressionados a interpretar um casal no filme estudantil de outra membra da gangue. O beijo que compartilham, e a evidência de um intenso ardor, separa os melhores amigos.
Como autor do filme, Dolan obviamente está expressando dores e momentos difíceis de sua própria vida, mas o que quer dizer muito pra ele não é o suficiente, sozinho, para puxar o interesse dos outros. O filme não é de toda uma perda. Dolan abandonou a histeria existencial de seu pior filme, “Juste la fin du monde”, que tinha um elenco maravilhoso tentando dar vida à uma peça no pior estilo de Tennessee Williams, e também fugiu da narrativa gay que atinge o mainstream: o amor marcado pela tragédia da AIDS.

“Sibyl”, de Justine Triet
A terapeuta Sibyl (Virginie Efira) está vivendo uma vida após o famoso “e foram felizes para sempre”. Bem sucedida em sua profissão, ela perdeu algumas coisas de seu passado, como a carreira de autora bestseller de ficção, e outras ela deixou para trás, como seu ex-marido, e pai de seu filho, Gabriel (Niels Schneider). A melhor coisa que ela tem é o fato de ter deixado seu alcoolismo para trás. Durante as sessões de Margot (Adèle Exarchopoulos), uma atriz grávida de seu parceiro de cena, Igor (Gaspard Ulliel). Ele, por sua vez, está num relacionamento com a diretora do filme dos dois, Mika (Sandra Hüller). Um triângulo amoroso com uma terapeuta rondando a cena. A intriga está no ar.
Técnicamente bem feito, os rumos que a história tomam são agoniantes. Decisões tomadas pelos personagens não fazem snetido e fogem à lógica humana. Efira, porém, tem uma vitrine onde brilhar, e se entrega de corpo e alma ao papel. Sua atuação merecia um filme melhor.

“Roubaix, une Lumière”, de Arnaud Desplechin
Aquele som emblemático da série americana “Law & Order”, que emula o “clanc-clanc” de metal batendo em metal, deve ter ressoado bastante na cabeça do diretor francês Arnaud Desplechin enquanto ele dirigia seu novo filme. Daoud (Roschdy Zem), é um comissário de polícia experiente e sábio, responsável pela lei e ordem de uma cidade arrasada por atrasos econômicos. Sua ascendência árabe permite que ele navegue todo tipo de rede cultural da população, e ele e seu time, que inclui um novato (sempre) são expostos a crimes pequenos e grandes, em um dia típico.
O elenco é a parte mais forte do filme, assim como em episódios seriais da série americana, atores renomados e desconhecidos se misturam, vivendo personagens excêntricos e interessantes. Ao querer abrir o leque narrativo para inclusão de muitos deles, Desplechin não consegue manter a narrativa ágil ou propulsivo. Cenas que deveriam ser contemplativas ficam chatas em comparação.

“Rocketman”, de Dexter Fletcher
Uma infância infeliz é a explicação pseudo-pop para o fenômeno que ainda está por vir. Reginald Dwight (Matthew Illesley) é a criança gordinha que carece de amor em uma família de classe média baixa do interior inglês que simplesmente não cultiva amor. O pai (Steven Mackintosh), veterano de guerra, existe num estado perpétuo de recuperação pós-traumática (sem diagnóstico, na época, a maioria dos soldados que voltaram do front tinham que engolir seus traumas sozinhos, ou com a ajuda de outros vícios). A mãe (Bryce Dallas Howard), vive numa fantasia de sua própria criação, aonde está destinada a ser fabulosa, mesmo que não faça nada de concreto para isso. É só a avó de Reginald, (Gemma Jones) que reconhece o talento inato da criança para música, e o encoraja a ponto dele virar Elton John (Taron Egerton).
O próprio Elton John é um produtor do filme, o que já indica que não se trata aqui de um filme com independência criativa. Existe porém, uma luz criativa no clichê desta produção: suas cenas musicais. Usando clássicos de carreira de John, Fletcher não situa o uso das músicas em performances do personagem. Ele adequa situações da vida do artista para refletirem as letras de suas músicas. Estas sequencias não estão aqui para marcar pontos e épocas da história, mas sim para contar a própria história. São elas a razão para assistir a este filme.

“Too Old to Die Young”, de Nicolas Winding Refn
Miles Teller interpreta Martin Jones, um policial de Los Angeles que busca lutar contra o crime de uma maneira radical, razão pela qual ele aceita uma atividade extra-curricular de assassino de aluguel, desde que o alvo seja um criminoso. Ao seu redor está o apocalipse. Viggo (John Hawkes), uma espécie de mentor, profetiza que o mundo está acabando, e que grandes cidades, como Los Angeles, a sua volta, acabarão em fogo. Diana (Jena Malone), é uma guia espiritual com uma lista de pessoas a serem assassinadas. Gangsters como Damian (Babs Olusanmokun) querem acertos de contas todos os dias e a delegacia de polícia de Martin brada gritos de Fascismo. Sua namorada adolescente, Janey (Nell Tiger Free), é um ponto de pureza, à parte de tudo isso, mas o pai da moça é um produtor de Hollywood (William Baldwin) sem escrúpulos. Em volta disso tudo estão produtores de filmes pornográficos e um cartel mexicano.
Refn é um diretor sempre inspirado. Só que a minutagem de seus melhores filmes, que não passam dos 90 minutos, requeriam que ele economizasse na soberba e mostrasse apenas as sequencias inspiradas de suas histórias e de sua imaginação visual. “Too Old to Die Young”, onde ele pode tomar o tempo que quiser para alongar uma conversa, ou um plano paisagístico, parece mais um experimento que deu errado, uma ode ao tédio narrativa que vencerá o espectador pelo cansaço.

“Family Romance, LLC”, de Werner Herzog
Começamos em uma cena idílica num parque, onde um pai Yuichi (Yuichi Ishii) tenta reconectar com sua filha adolescente, Mahiro (Mahiro Tanimoto), que não teve esta presença durante sua vida. É um tanto desconfortável, pois nenhum dos dois sabe o que falar para apaziguar um sentimento de desconfiança. Yuichi peca pela sinceridade, e expressa arrependimento de ter abandonado sua família. Os dois ainda precisarão de algumas sessões extras para se familiarizarem.
Estas sessões extras custarão dinheiro à mãe, pois em outra cena vemos Yuichi relatando a ela suas impressões sobre a jovem Mahiro, seus medose suas aspirações. Yuichi é, na verdade, um empresário que as pessoas podem “alugar” para que interprete um membro da família ausente. Preocupada com o vazio na vida de Mahiro, sua mãe o contratou para fingir que é seu pai, e preencher o buraco. Baseado em uma empresa real, que foi retratada em um artigo fascinante no ano passado, “Family Romance” explora as necessidades de afeto do ser humano.

“J’ai Perdu Mon Corps”, de Jérémy Clapin
A angústia da migração, mesmo que indiretamente, é capaz de separar um jovem de sua mão nesta nova animação francesa. Logo no começo, o jovem Naoufel (Hakim Faris) está desmaiado numa sala de carpintaria, com sangue em seus óculos e uma mão decepada. Logo depois, a mão acorda em um tipo de laboratório, ou mesmo um mortuário. É um momento absurdo, e poético: uma mão decepada, como aquela da Família Addams, observando e se locomovendo pelo ambiente de forma autônoma.
Enquanto a mão começa a explorar a cidade, vemos o que parecem ser flashbacks da vida de Naoufel (não é nenhuma surpresa saber que a mão é dele). De uma família com ascendência no Marrocos, ele tem uma vida idílica com seus pais. Um acidente muda sua circunstância e o jovem perde seu sentido na vida, virando, na adolescência, um entregador de pizza sem sonhos.
Ruim – 1 estrela

“Le Jeune Ahmed”, de Jean-Pierre e Luc Dardenne
Nacionais da Bélgica, Jean-Paul e Luc Dardenne decidiram explorar o tema do radicalismo islâmico no personagem de um menino de 13 anos, Ahmed (Idir Ben Addi), um candidato a ótimo exemplo de melting pot, com um pai árabe e uma mãe (Claire Bodson) branca e belga. O pai está ausente e a mãe tenta criar ele e sua irmã de maneira afetiva num bairro de classe operária. Só que, desde os momentos iniciais do filme, Ahmed já está à beira do extremismo, influenciado pelo seu Imam (Othmane Moumen). Não sabemos o que aconteceu, mas Ahmed agora se recusa a encostar em mulheres, reza cinco vezes por dia e castiga sua mãe por esta beber álcool.
O filme existe como uma vagaria desinteressante aonde dois diretores europeus, brancos e idosos, exploram a questão de um jovem extremista e impenetrável para seu filme. Ahmed, resoluto e sem graça, é muito menos interessante do que todos os outros personagens, especialmente sua mãe, quando lamenta, agoniada, que duas semanas atrás ele era um menino normal, que jogava Playstation.

“Little Joe”, de Jessica Hausner
Um laboratório repleto de flores, vermelhas e aparentemente inofensivas, é uma imagem cheia de possibilidades, marcante em um filme de ficção científica. Este, porém, é um filme que explora esta imagem em várias dimensões, só que nenhuma delas em uma maneira satisfatória. A flor, chamada de “Little Joe” por sua criadora Alice (Emily Beecham), é um remédio. Ao ser acolhida e bem tratada, a planta exala feromônios que tem efeitos anti-depressivos em seres humanos.
Uma das ideias mais básicas é este relacionamento entre homem, tecnologia e natureza. A existência desta planta, e o fato da maioria de nossos medicamentos virem do que está ao nosso redor, elementos naturais extraídos e manipulados quimicamente, talvez até como perversão. Se fizermos um paralelo entre Alice, que criou a flor, e o Dr. Frankenstein, que criou seu próprio homem, a metáfora está completa. Só que esta vertente está batida.

“Nina Wu”, de Midi Z
Inspirada em relatos de atrizes ao movimento #metoo e de experiências próprias, o roteiro conta a história de uma atriz em busca de um papel num filme. O projeto lhe interessa, mas a obrigação de filmar cenas completamente nua a intimida. O processo a que ela se submete deixa cicatrizes, físicas e mentais, numa descida rumo à loucura.
A confusão entre o que é halucinação e o que é real é um ponto fraco do filme. Desconexo e por vezes confuso, Midi Z parece não achar que o filtro mais apavorante de todos, é aquele do tom de realidade.