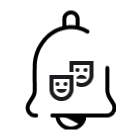Cannes: Asteroid City, de Wes Anderson
Em um cenário cheio de possibilidades, diretor americano re-explora temas de sempre.
atualizado
Compartilhar notícia

Wes Anderson está cada vez mais artificial. Conhecido pela simetria de seus quadros e coordenação de câmera, assim como direção de arte impecável, críticos há muito tempo debatem se o que o diretor americano quer, na verdade, é usar o cinema para brincar de bonecos. Talvez por isso mesmo, Anderson goste tanto de trbalhar com animação e stop-motion. Queridinho do Festival de Cannes, ele retorna com atores de carne e osso e, como sempre, o elenco impressiona: Tom Hanks, Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Ed Norton, Bryan Cranston, Rupert Friend, Steve Carrell, etc e etc.
Asteroid City é um lugarejo no deserto americano–localizado no meio da Guerra Fria e até próximo do laboratório de testes onde se desenvolveu a bomba atômica. Lá se encontram viajantes variáveis, a maioria em torno de uma competição estudantil de ciências. Jonas Hall (Schwartzman), está com seus quatro filhos e a má notícia que a mãe das crianças faleceu. June (Maya Hawke) tem um ônibus inteiro de crianças metidas a cientista. E Midge Campbell (Johansson), é uma atriz de Hollywood ensaiando um novo papel. Entre encontros no pequeno hotel de beira-de-estrada, a lanchonete e a oficina mecânica que beiram uma enorme cratera, resultado do impacto de um asteróide, alguma profundidade será encontrada.
O problema é que nada disso importa. Todos estes personagens estão dentro de uma peça, escrita por Conrad Earp (Norton) e dirigida por Schubert Green (Adrien Brody). Neste núcleo, também composto pelos atores que interpretam os personagens da cidade, são os temas de criação artística e existência. Só que tudo isso, na verdade da verdade, é que os dois níveis da história estão sendo contados em um programa de rádio, narrado por Bryan Cranston.
Anderson é aquele diretor já conhecido pelo público, e por isso basta dizer que seu novo filme não deriva tanto da fórmula estética e da primazia técnica. Talvez seja este o problema. Anderson faz um cinema que parece único, mas a cada nova iteração de sua dramaturgia, a mesmice se assenta, ao ponto de programas de inteligência artificial conseguirem viralizar seu estilo.
Estamos na era da metalinguística da arte, aonde não é suficiente que uma obra simplesmente exista, ela também precisa avaliar, dentro de si mesma, a maneira como ela é apresentada e também como poderá ser percebida e compartilhada. Anderson trata essa demanda criando camada acima de camada narrativa de maneira a teorizar que as buscas emocionais e racionais de seres humanos são as mesmas em todos seus cenários, que existe pouco a ser entendido em nossa existência e muito a ser imaginado, e que o conforto da vida é somente aquele que permitimos a nós mesmos e às pessoas ao nosso redor. Para potencializar isso, porém, ele precisa voltar a contar histórias completas em um só plano de narrativa.
Avaliação: Regular