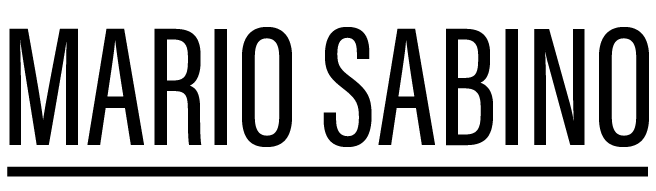Eleição americana: a morte de Peanut e a grandeza dos Estados Unidos
Nem Trump, nem Kamala destruirão os Estados Unidos, um país onde até morte de um esquilo ilustra o vigor da sua democracia
atualizado
Compartilhar notícia

A corrida presidencial nos Estados Unidos começou com Joe Biden e o atentado a Donald Trump e terminou com Kamala Harris e a morte do esquilo Peanut.
O esquilo Peanut era uma celebridade nas redes sociais. Seu dono, Mark Longo, do estado de Nova York, cuidava de Peanut desde que a mãe do esquilo morreu atropelada sete anos atrás.
Nos vídeos que Mark Longo postava no Instagram e no TikTok, os dois protagonizavam cenas ternas e divertidas de amizade entre um ser humano e um animalzinho. Havia ainda um guaxinim chamado Fred, igualmente resgatado pelo rapaz. Inspirados pelo esquilo, Mark Longo e a sua mulher, Daniela, abriram um refúgio para animais.
Peanut também servia para fazer o marketing dos vídeos pornográficos estrelados pelo casal no site Only Fans, onde Mark Longo se apresenta como “Pai do Esquilo”.
Os vídeos de Peanut chamaram a atenção do Departamento de Conservação Ambiental de Nova York, que afirma ter recebido denúncias anônimas. Fiscais bateram à porta de Mark Longo. Como ele não tinha permissão para cuidar de animais selvagens, Peanut e Fred foram apreendidos. Não adiantou o rapaz dizer que eram seus bichos de estimação.
Peanut e Fred tiveram um final trágico: foram sacrificados porque o esquilo mordeu um funcionário da repartição. A justificativa é que eles poderiam estar com raiva. História mal contada.
A campanha de Donald Trump explorou o destino lamentável de Peanut: disse que ele foi morto desnecessariamente por burocratas das hostes democratas em Nova York, estado governado pelo partido de Kamala Harris. Elon Musk postou no X que Peanut era um jedi, como os da saga Star Wars: mais forte morto do que vivo.
Para os republicanos, a morte de Peanut (e de Fred) é exemplo do excesso de Estado na vida das pessoas. A comoção foi grande, e o New York Times, que fez campanha para Kamala Harris, tentou despolitizar o triste fim de Peanut na reportagem “Como a morte de um esquilo famoso se tornou um grito de comício republicano” (da qual tirei as informações acima), tratando o assunto na condição de mais um episódio cuja importância foi aumentada pela polarização.
O meu olhar é outro. Ao ler sobre Peanut, pensei que a grandeza dos Estados Unidos está também no que é aparentemente pequeno, até mesmo ridículo. Porque em cada canto da existência, por menor e pitoresco que ele seja, o embate entre liberdade individual e governo se faz presente entre os americanos.
Explico: foi nesse embate que eles construíram a nação mais poderosa e fascinante que jamais existiu. Que criaram a democracia liberal. É por meio desse embate que os Estados Unidos podem purgar-se dos seus pecados, em um processo contínuo de autorregeneração inédito na história da humanidade.
No excelente A History of the American People, um catatau de quase mil páginas (incluindo as notas), publicado na antessala do século XXI, o historiador britânico Paul Johnson escreveu que a história americana levanta três questões fundamentais.
A primeira é “se uma nação pode se elevar acima das injustiças das suas origens e, por seu propósito moral e desempenho, expiá-las. Todas as nações nascem na guerra, na conquista e no crime, geralmente escondidos pela obscuridade de um passado distante. Os Estados Unidos, desde os seus primeiros tempos coloniais, ganharam seus títulos de propriedade em meio ao calor da história registrada, e as manchas estão lá para todos verem e reprovarem: a desapropriação do povo indígena e a garantia da autossuficiência por meio do suor e da dor de uma raça escravizada. Nas balanças da história, tais erros graves devem ser compensados pela construção de uma sociedade dedicada à justiça e à igualdade. Os Estados Unidos fizeram isso? Ele expiou os seus pecados de origem?”
A segunda questão, para Paul Johnson, fornece a chave para a primeira: “No processo de construção da nação, os ideais e o altruísmo — o desejo de erguer a comunidade perfeita — podem ser misturados de maneira exitosa com a cobiça e ambição, sem as quais nenhuma sociedade dinâmica pode ser construída? Os americanos acertaram na mistura? Eles forjaram uma nação onde a justiça predomina sobre o necessário interesse pessoal?”
Por último, o historiador britânico lança a seguinte pergunta: “Originalmente, os americanos almejavam construir uma ‘Cidade sobre a Colina’ que fosse de outro mundo, mas se viram projetando uma república do povo que fosse modelo para o planeta inteiro. Os seus propósitos audaciosos foram alcançados? Eles realmente se provaram exemplares para a humanidade? E eles continuarão a sê-lo no próximo milênios?”
Uma nação sobre a qual se pode perguntar tudo isso já se diferencia de todas as outras, independentemente das respostas a ser obtidas. Tenha em mente essa diferença ao acompanhar a apuração das eleições americanas, por mais que ela pareça confusa demais, tortuosa demais, para um país que se quer modelo. É a orgia de uma democracia vibrante, não uma festinha liofilizada de um regime chumbrega.
Quanto ao resultado, não leve a sério os apocalípticos de qualquer lado. Nem Donald Trump, nem Kamala Harris, nem ninguém que lhes está por trás, são capazes de destruir os Estados Unidos da América. A democracia americana resistiu a uma guerra civil, a duas guerras mundiais, à Grande Depressão e à Guerra do Vietnã. Até a morte de um esquilo ilustra o vigor da sua democracia. RIP Peanut.